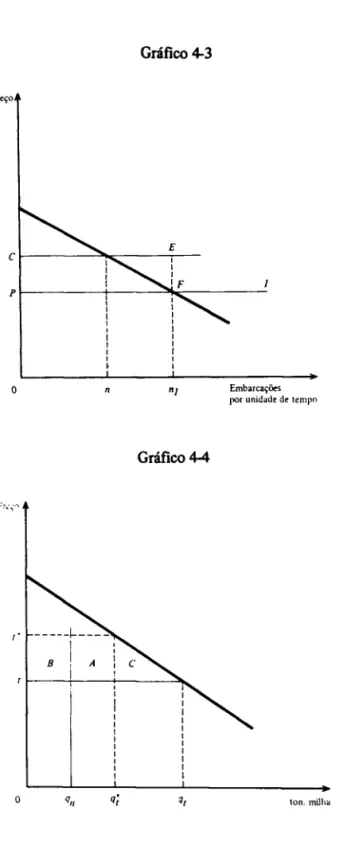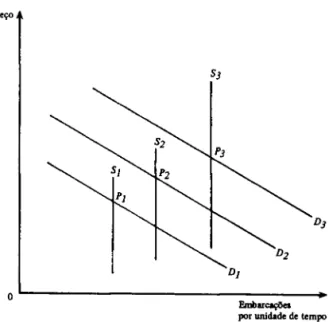I
I
- - - -
- - --FERNANDO LOPES DE ALMEIDA
Doutor em EconomiapeJa Escola de P6s-Graduação em Economia
da Fundaçio Getulio Vugas
A EXPANSÃO DA INDÚSTRIA
DE BENS DE CAPITAL:
FATORES DETERMINANTES
FGV - Instituto de Documentaç'o Editora da Fundaçã'o Getulio Vargas
Rio de Janeiro, RJ - 1983
CP 9.052-20.000
Rio de Janeiro - Brasil
~ vedada a reprodução total ou parcial desta obra
Copyrlght © da Fundaçio Getulio Vargas
1~ ediçio - 1983
FGV - Instituto de Documentaçio Diretor: Benedicto Silva Editora da Fundação Getulio Vargas
Otefia: Mauro Gama
Coordenação geral da edição: Regina Mello Brl!11dio ('..apa:'Leon Algamis
Composição: Paulo Alves
Impresslo: Max Com. e Ind. de Papéis e Edt. Ltda.
onplJC
Cba
ptbIicada com a-.!:-:a::
colaboração da ANPEC e o~rn
... ' """""" apoio financeiro do PNPE. ... ~
ALMEIDA, Fernando Lopes de
A expansão da indústria de bens de capital: fatores determinantes
I
Fer-nando Lopes de Almeida. - Rio de Janeiro: Fundaçio Getulio Vargas, 1983.viii, 209p.:
n. -
(teses/Fundação Getulio Vargas; 7)Originalmente apresentado como tese de Doutorado à Escola de
Pós-Gra-duaçio em Economia da Fundação Getulio Vargas, sob o título: Fatores
deter-minantes da expansão da indústria de bens de capital.
Bibliografia: p. 197-205.
1. Bens d~ capital- Brasil - 1956-1978. I. Fundação Getulio Vargas.
n.
Título.GE
~9b'-1-1
BIBLIOT A
FU~DACAO GETULIO IIARGAS
AGRADECIMENTOS
Inicialmente, gostaria de expressar meus agradecimentos ao Co-mitê de Tese formado pelos Profs. José Júlio de Almeida Senna (pre-sidente), Antonio Carlos Braga Lemgruber, Claudio Luís da Silva Haddad e Luiz Aranha Correa do Lago pelo apoio, orientaçlo e enco-rajamento que sempre encontrei ao longo da elaboração deste tra-balho.
A idéia para a realização deste estudo surgiu quando da minha participação em grupo de pesquisa constituído no âmbito do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas e coordenado por Luiz A. Correa do Lago, cujo objetivo era estudar a indústria brasileira de bens de capital.
Não poderia deixar de agradecer também o apoio recebido do grupo de pesquisa enta:o formado em termos de info~s estatís-ticas.
Agradecimentos V 1. Introdução 1
2. A expando do setor de bens de capital no período 1956/1978 3
2.1 Introdução 3
2.2 Caracterizaçfo do setor em meados da década de 19504
2.3 A evoluçfo do setor no período 1956/61 7 2.4 O setor de bens de capital durante
a recesslo 1962/6715
2.5 O setor de bens de capital no período 1968/73 22 2.6 O desempenho da indústria de bens de capital
no período 1974/7833
3. A política governamental face à indústria de bens de capital na década de 197057 3.1 Introdução 57
3;2
Os
principais órgãos normativos e as grandes linhas de política governamental com influênciasobre o setor de bens de capital 58
3.3 As instituiçOes financeiras do governo federal
e a política de compras dos órgfos e empresas estatais 69 3.4 A política tecnológica do governo para
a indústria de bens de capital 85
3.5 As empresas estatais produtoras de bens de capital 87 3.6 ConclusOes 90
4. Investimento: o quadro teórico de referência 93 4.1 Introdução 93
4.2 Apresentaçfo sintética das principais teorias do investimento 94
4.3 Especificação do investimento em bens de capital 115 4.4 Apresentação do modelo básico geral de
investimento em bens de capital de produçfo doméstica 117 4.5 Algumas considerações adiciOnais sobre
o modelo básico geral 124 \ 4.6 Descriçfo de modelos específibos 126
5. Apresentaçfo e discusslo dos resultados obtidos 145 5.1 Descrição de resultados relevantes 145
---
o
objetivo deste trabalho é a investigação dos fatores que con-dicionaram o crescimento da indústria de bens de capital de 1956 até 1978. O período coincide, grosso modo, com o avanço inicial da in-dústria pesada em nosso país e com o começo de uma programação govetnamental mais cuidada. Naturalmente, a gama de fatores que afetaram a expansão do setor de bens de capital foi enorme e, forço-samente, ter-se-á que deixar de fora os que são claramente secundá· rios.A ótica sob a qual se analisará a referida expansão será aquela . em que se procurará levar em conta não apenas os elementos que afetam a oferta, mas também os que concorrem para a expansão da demanda por bens de capital. Assim, tal expansão será sempre pensada como o resultado da interação das forças da demanda e da oferta, condicionada pela atuação g~ernamental.
A descrição do roteiro seguido deixa claro o encadeamento que ·se supõe existir entre as diversas seções e capítulos. Inicialmente, no capo 2, é feita a descrição da evolução do setor de· bens de capital no período 1956/1978. Tal descrição abrange diversos aspectos, abor-dando desde questões ligadas à produção doméstica e à importação, até a atuação governamental, passando por considerações sobre tecno-logia e propriedade do capital. Esse capítulo deverá constituir o qua-dro histórico de referência.
O capo 3 centra-se na análise da atuação governamental recente (pós-1970) no que diz respeito ao setor. Pretende-se abordar a inge-rência governamental em suas múltiplas manifestações. Assim, exa-minam-se questões ligadas às áreas que mais tradiciona1m~nte têm sido objeto de preocupação governamental ligadas às funções de regula-mentaçio. Analisam-se os efeitos da elevada concentração dos recursos de crédito em instituições governamentais. Discute-se a potencialidade da política de compras governamental no que se refere ao estímulo à expansão e consolidação de uma significativa e moderna indústria de bens de capital. Consideram-se questões ligadas à política tecnológica governamental para o setor, e até mesmo a atuação direta do Estado enquanto produtor de bens de capital. Objetiva-se com esse tipo de tratamento mostrar como a atuação governamental tem sido impor-tante, especialmente durante a década de 1970, na determinação das características da indústria de bens de capital tal como ela hoje se apresenta.
No capo 4 a preocupação é eminentemente teórica. Procura-se caracterizar as variáveis que seriam as responsáveis pelo investimento
em bens de capital de produção doméstica. Para tanto, faz-se inicial-mente uma revisão da literatura existente sobre teoria do investimento em que se destacam as variáveis potencialmente explicativas da deman-da por bens de capital, mencionando-se, inclusive, alguns trabalhos empíricos. Evidentemente, o objetivo do trabalho nlo é o de estudar o investimento em bens de capital, enquanto demanda, a nível de em-presa ou de segmento de atividade econômica. Como se pretende
ana-lisar os fatores condicionantes da expansão do setor de bens de capi-tal, deve-se considerar que variáveis podem explicar o investimento em certos tipos de bens de capital (que pode, por vezes, destinar-se a um segmento demandante específico). Mais ainda, o investimento não deve ser enfocado sob a ótica da demanda pura e simplesmente, mas incorporar questões relativas ã oferta, ou seja, às características e moti-vações do parque produtivo.
Esse
é o objetivo da apresentaçlo, nas seções finais do capo 4, de um modelo básico geral de investimento em bens de capital de fabri-caçlo doméstica e seu posterior detalhamento resultando em modelos específicos para os diversos tipos de bens de capital. Tais modelos, derivando do modelo básico geral, incorporam singularidades típicas de cada bem ou conjunto de bens de capital. Trata-se, na v~dade, de formas reduzidas que incorporam considerações de demanda e de oferta e que, permitindo o teste posterior, agregam subsídios aos capí-tulos anteriores na explicaçlo da expansão do setor de bens de capital. No capo 5 são apresentados e discutidos os testes empíricos dos diversos modelos. Dadas as características dos diversos modelos, a transcrição de todos os resultados seria nlo só monótona, como des-provida de sentido prático. Assim, os principais resultados obtidos, cujo critério de seleçlo será entlo mencionado, serlo listados ediscu-tidos. Naturalmente entre os critérios gerais de seleçlo de modelos sujeitos a teste econométrico podem, desde já, ser mencionados sua melhor adequaçfo do ponto de vista econômico e o atendimento aos testes estatísticos usuais.
Um sumário apresentará ainda os aspectos mais relevantes que, em cada capítulo, foi possível detectar. Todas as informações estatís-ticas utilizadas no teste dos diversos modelos serlo listadas em Apên-dice, permitindo, inclusive, que se observe a enorme dificuldade em conseguir séries suficientemente longas, confiáveis e adequadas para os testes realizados. Acresça-se o fato de que, em diversos casos, modelos referentes a outros tipos de bens de capital deixaram de ser testados por nlo ter sido possível sequer construir proxies para variáveis rele-vantes.
Finalmente, consta do trabalho uma listagem da bibliografia consultada para a elaboraçlo do presente estudo.
NO PElÚODO 1956/1978
2.1 Introdução
Examinaremos neste capítulo o crescimento e a diversificação da indústria de bens de capital no Brasil no período 1956/1978, pro-curando-se descrever, a partir da situação dessa indústria em meados da década de 1950, as características de seu processo de expansão, examinando-se a questão não apenas em termos quantitativos, mas também levantando-se possíveis explicações para tal expansão. Assim, serio analisadas as diversas medidas de política governamental perti-nentes', especialmente no período pré-1973, de vez que a política governamental na década de 1970 será objeto de análise detalhada em outro capítulo. Além disso, tanto a produção como a importação de bens de capital e questões associadas serão objeto de exame.
Não se pretenderá fazer um estudo meramente seqüencial do processo de expansão, mas serio examinados diverSos subperíodos que, sob vários aspectos, têm características próprias.
A demanda agregada por bens de capital é o somatório da de-manda de reposição e da dede-manda de expansão. Desse modo, é eviden-te que, dependendo do clima da economia em geral e da indústria em particular, ingredientes básicos na formação das expectativas que norteiam os investimentos privados, quaisquer variações na demanda por bens fmais de consumo que sejam vistas como "permanentes" induzirão variações ampliadas na demanda por bens de capital. Con-forme essas variações sejam confirmadas ou contrariadas pela política pública de investimentos, os impactos serão mais ou menos intensos. Essas considerações constituem a base da periodização a ser utilizada. Assim, o primeiro subperíodo compreenderá os anos de 1956 a 1961, caracterizados por um processo de expansão da economia brasileira que afetou significativamente a indústria de bens de capital. Por outro lado, é inegável que o período de recessão 1962/1967 teve grande impacto não apenas sobre a indústria em geral mas, em função da especificidade do setor de bens de capital, também o afetou bastante.
Ainda assim a indústria de bens de capital diversificava:se segui-damente, incorporando novos segmentos mesmo durante os períodos
de recessão. O período seguinte corresponde ao chamado auge eco-nômico dos anos 1968 a 1973, em que o setor experimentou sensível crescimento e começou a ser objeto de maior atenção governamental.
~ todavia, paradoxalmente, após o surgimento da crise do petróleo e da aceleraçã'o interna da inflaçã'o que o setor - já então alvo de fran-cos estímulos governamentais - expandir-se-á de forma bastante
da, não apenas em 1ermos de produçã'o, mas, principalmente, em ter-mos de ampliaçã'o de capacidade produtiva .. ~ evidente que, como toda periodização, a atualmente escolhida tem falhas. Nã'o obs!Ínte, ela corresponde a uma necessidade de separar momentos diferentes e tem sido em geral a utilizada nas análises de crescimento industrial.
2.2 Caracterização do Setor em Meados da Dkada de 1950
É importante a caracterização do setor de bens de capital na primeira metade da década de 1950 para que se entendam as trans-formações posteriores. Estas só serio compreendidas se a base, a partir da qual se originaram, já estiver caracterizada e se a idéia, freqüente-mente difundida, da insignificância -do setor tiver sido abandonada.
Está claro que nã'o se supõe ter existido uma indústria de bens de capital de grande porte, mas espera-se deixar claro que já existiam segmentos específicos com relativo peso. Assim, por exemplo, o seg-mento produtor de máquinas-ferramenta é tradicional em nossa indús-tria, especialmente ade tornos. Naturalmente a sofISticação era muito pouca, o mecanismo de trarlSferência de tecnologia predominante era a cópia, e a produção se restringia a máquinas de pequeno porte e
a
algumas linhas principais.
O
mesmo se poderá dizer da produção de máquinas para a indústria têxtil.Também no que se refere a material ferroviário já havia algumas empresas cujas atividades se iniciaram no imediato pós-guerra (Com-panhia Industrial Santa Matilde, Fábrica Nacional de Vagões e Compa-nhia Brasileira de Material Ferroviário. Está claro que
a
fabricação nã'o atingia locomotivas, mas apenas vagões e componentes.No tocante à indústria de construçã'o naval existiam apenas as empresas de reparos que, posteriormente, ampliadas e acrescidas de empresas estrangeiras, vieram a constituir o que é hoje uma indústria de construção naval relativamente moderna. No ramo aeronáutico apenas uma empresa (Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva Ltda.) havia sido fundada até essa época, estando em funcionamento até hoje.
Em termos de produção de máquinas e equipamentos em geral a indústria brasileira de bens de capital já se fazia sentir. Muitas vezes originando-se de empresas metalúrgicas, a produçã'o de bens de capital era bastante diversificada, mesmo ao nível da empresa. Tal diversifica-çã'o, evidente na época, 1 permanece até hoje pelo mesmos motivos, basicamente relacionados com a exigüidade dos mercados para certos produtos., a redução da instabilidade da demanda e o aproveitamento
l LEFF , Nathaniel H. The Brazilian Olpilill Goods Industry 1929/1964.
Cam-bridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1968.
nico para certos equipamentos tendia a "superdimensionar".
Reflexo da "massa crítica" que já existia à época no setor é a criaçio da ABDm em 1955, basicamente ligada às crescentes necessi-dades de equipamentos para a PETROBRÁS. Essa empresa estatal, desde o início, buscou articular-se com empresas do setor visando uma programaçlo de cOlllpras que viabilizasse maior participação das em-presas nacionais de bens de capital.
De
grande importância na época foram as políticas cambial e tarifária, e o setor de bens de capital foi por elas grandemente influen-ciado. De 1947 a 1953 vigorou um sistema de licenciamento de im-portações num contexto de crise cambial crônica mantendo uma pari-dade artificial de 18,5 cruzeiros por dólar, claramente sobrevalorizada. Em tal situaçlo, é evidente que se teria de lançar mio de outros meca-nismos para limitar importações. O sistema escolhido foi o de licen-ciamento por via administrativa (operado pela CEXIM do Banco do Brasil), formalmente funcionando com base em uma escala de priori-dades.A importaçlo de máquinas e equipamentos situava-se numa posiçlo intermediária e, naturalmente, aquelas empresas contempladas com a licença podiam adquirir externamente bens de capital a um preço tal que era virtualmente impossível a concorrência da indústria domésti<;a. Nlo obstante, pelo conjunto de procedimentos conhecido como "Lei do Similar", as importações de bens satisfatoriamente atendidos pela produção interna - em termos2 de preço, qualidade e prazo de entrega - eram obstaculizadas.
Não se deve esquecer o fato de que alguns produtos tinham já uma proteção natural em função dos custos de transporte (pelo seu preço unitário e pelo volume, como, por exemplo, ocorria com a cal-deiraria). No tocante à "Lei do Similar" a constataçlo de similaridade era mais comum para produtos padronizados, enquanto no tocante a bens de capital sob encomenda era mais simples a descaracterização de similaridade, pela manipulação das especificações, quando havia pro-duçlo doméstica.
Em outubro de 1953 o sistema de licenciamento mostrava seu esgotamento, após várias tentativas de controlar os problemas que apresentava, transferindo produtos para um mercado livre ou permi-tindo a exportadores negociarem suas divisas com os importadores. Da substituição resultou um sistema de taxas múltiplas que perduraria até
2Uma descrição muito interessante da situação da economia brasileira, na época, pode ser encontrada em: GORDON, L. e GROMMERS, Engelbert L. United States Manufizcturing Inveniment in BrazU: The Impact 01 BrazilÍlln
Govern-ment Policia - 1946/1960. Boston, Harvard, 1962.
agosto de 1957 compreendendo cinco categorias de bens. Tal sistema baseava-se em leilões de divisas separados para cada categoria de bens (as categorias baseavam-se em critérios de essencialidade deflDidos pelo ~overno). Dos leilões resultava um ágio a ser pago pelos certifi-cados que, naturalmente, variava de acordo com a demanda e com as alocações feitas pelo governo a cada categoria de bens. A taxa resul-tante equivalia à cotação oficial de 18,5 cruzeiros por dólar, mais o ágio e algumas taxas de pequena monta.
De modo geral, as importações de equipamentos situavam-se na categoria III, embora também nas categorias I,
n
e IV houvesse inú-meros bens de capital, como se mostra a seguir.Ao lado do sistema de taxas múltiplas, funcionava uma taxa pre-ferencial (custo de câmbio) que podia ser obtida para fmanciar impor-tnções de equipamentos registrados na SUMOC como de especial inte-resse para a economia nacional, através de empréstimos de pelo menos cinco anos de carência.
No início de 1955 introduziu-se uma medida que afetou larga-mente não apenas o perftl do parque industrial futuro, mas também o setor de bens de capital doméstico. Essa medida, a Instrução n<? 113 da SUMOC, permitia ao investidor estrangeiro importar maquinaria, sendo o pagamento feito sob a forma de uma participação em cruzei-ros no capital da empresa que utilizaria o equipamento. O órgão en-carregado da aplicação das disposições da Instrução n<? 113 era a CACEX, sucessora da CEXIM, no caso de o investimento ser desejável para a economia do país, critério preenchido automaticamente se o equipamento se destinasse à produção de bens classificados nas Categorias 1,11 e 1II.4
A aprovação deveria ser concedida, via de regra, a equipamen-tos compleequipamen-tos, o que abriu possibilidade de contornar a "Lei do Simi-lar" quanto a alguns componentes. Naturalmente, os principais efeitos da Instrução n<? 113 incidirão sobre o período 1956/61 e aí então serão examinados em maior detalhe. Adicionalmente, na fase em con-sideração, num contexto inflacionário, a proteção tarifária virtual-mente inexistia, de vez que as tarifas, sendo específicas, perdiam sua eficácia com o passar o tempo.
Como se vê, até meados dos anos 50, a indústria de bens de capital existia quaSe que independentemente, e até mesmo apesar,
3 A descrição do funcionamento desses mecanismos pode ser encontrada, entre outras, nas seguintes publicações: GORDON, L. e GROMMERS, E.L. Op. cit.;
BERGSMAN, J. Brazil Indumialization and Trade Policies. Oxford, 1970; DOELLINGER, Carlos Yon e outro~. Polftico e Estrutura das Importações Brasi-leiras. Rio de Janeiro,lPEA, 1977. (Col. Relatórios de Pesquisa n9 38).
4Yer GORDON, L. e GROMMERS, E.L. Op. cit., p. 19.
tando as vantagens existentes em termos de custo de transporte e uti-· lizando-se largamente de mã"o-de-obraS de baixo custo em relação aos principais países fornecedores.
As informações do Censo Indllstrial de 1950 - que serão anali-sadas conjuntamente com as do Censo Industrial de 1960 em seção posterior - permitem ilustrar o papel dos diversos segmentos produ-tores de bens de capital na época, nã"o só a nível de gênero (mecânica, material elétrico e de comunicações, material de transporte), mas também a nível dos principais ramos específicos de bens de capital dentro de cada gênero.
~ essa estrutura industrial, ligeiramente módificada na primeira metade da década de 50 que se terá de tomar por base na análise que ora se inicia do período pós-1956.
Categorias
Quadro 2-1
Bens de Capital Selecionados por Categoria
Bens de Capital
Equipamentos para prospecção de petróleo ou outros minerais, máquinas agrícolas, equipamentos para usinas hidrelétricas, equipamentos para aviação;
II Máquinas vinculadas à utilização do carvão, material elétrico, peças para equipamentos usados em construção rodoviária; UI Aparelhos de comunicação, ferram8ntas, fornos de uso
indus-trial, máquinas para a indústria têxtil e diversas outras áreas do setor industrial, veículos, locomotivas, chassis, aviões, navios, barcos, motores e geradores;
IV Máquinas ligadas às indústrias de bebidas e cigarros.
Fonte: Seleção feita a partir de: DOELLINGER, Carlos Von e outros. Op. cit., p.28.
2.3 A Evolução do Setor no Período 1956/1961
2.3.1 As Característiws da Política Governamental para o Setor de Bens de Capital
A aceleração do crescimento do setor observada no período, juntamente com a implantação dos segmentos industriais de tecnolo-gia complexa em relação ao quadro preexistente, ocorreu, via de regra,
SLeCC, entre outros autores, chama a atenção para a utilização intensiva de
mão--<ie~bra. V cr LEFF, Nathaniel H. Op. Cito
associada à entrada ou à expansão de empresas estrangeiras, associadas ou não ao capital nacional. Isso, em grande parte, foi resultado de uma política governamental deliberada que se valeu de inúmeros mecanis-mos. Os objetivos de tal política, explicitados no Programa de Metas do governo Kubitschek implicaram na utilização de instrumentos di-versos de política econômica. Serão objeto de exame apenas aqueles que mais diretamente tenham interferido na evolução do setor de bens de capital.
A importação de equipamento sem cobertura cambial ao abrigo da Instrução n!' 113 da SUMOC se por um lado poderia estimular a implantação de novas empresas em segmentos modernos da economia, por outro poderia significar, pelo menos parcialmente, um vazamento no mercado que, de outra forma, poderia ter sido atendido pela pro-dução doméstica. Esse fato merece atenção, de vez que um estudo acerca dos investimentos norte-americanos no Brasil refere-se ao fato de que para a maioria das empresas que receberam os benefícios da Instrução 113 e reduções tarifárias suplementares, tais reduções de custos não parecem ter sido um fator decisivo nas decisões de investi-mento. Essas empresas teriam sido motivadas, principalmente, por autoproteção em antecipação à operação da "Lei do Similar" (que não é na realidade um diploma legal, mas um conjunto de procediinentos legais), ou por considerações a respeito da garantia de uma fatia de um mercado em expansão.6 A influência da Instrução 113, no caso, teria se restringido à amplitude ou à rapidez do investimento, e não à sua própria existência.
A existência de reduzidas restrições à movimentação do capital estrangeiro investido no país, seja em termos de repatriamento, seja em termos de remessa de lucros, completava o clima propício aos investimentos estrangeiros.
Duas modificações de peso ocorridas no período foram a simpli-ficação do sistema de taxas múltiplas de câmbio e a modisimpli-ficação da estrutura tarifária, em agosto de 1957. No sistema cambial, passou-se de cinco categorias para duas apenas: a categoria geral e a especial, esta última abrangendo os produtos não essenciais (englobando os bens de produção para os quais houvesse oferta doméstica suficiente). Para os bens de capital, compreendidos na categoria geral, o sistema de leilão foi mantido até março de 1961, quando a cotação das divisas estran-geiras passou a ser estabelecida num mercado livre.
O comportamento do preço da divisa ao longo do período pode ser observado no Quadro 2-3.
6GORDON, L. e GROMMERS E.L. Op. cit., p. 29.
Brasil - Licenças Concedidas a Investimentos Estrangeiros sob a Instrução 113 da SUMOC
Ano Valor (USSl.Ooo,OO)
1955 1956 1957 1958 1959 1960
42.027 47.452 119.157 104.176 86.817 107.219 Fonte: GORDON, L. e GROMMERS, E.L. Op. cit., p. 10.
Quadro 2-3
Brasil - Taxa de Câmbio, por Categoria e no Mercado Livre
Taxa de câmbio CrS/dólar corrente
Categoria geral Categoria especial Mercado livre 1957 (set./dez.)
1958 1959 1960
1961 (jan./mar.)
80,29 179,67
149,35 300,36
201,75 365,88
222,79 527,37
208,86 638,76
Fonte: DOELLINGER, Carlos Von. Op. cit., p. 39.
129,37 156,60 189,73 189,73
A estrutura tarifária foi modificada no sentido de introduzir um conjunto de tarifas ad valorem, que efetivamente representassem
um certo nível de proteção que não se alterasse com a inflação, como ocorre com o imposto específico. O CPA (Conselho de Política Adua-neira), criado com a reforma de 1957, tinha atribuições extensas, in-cluindo mudanças de produto entre as duas categorias e decisões sobre a similaridade (essa última atribuição passaria à CACEX em 1967). Há indicações, contudo, de que a relação entre os impostos pagos na im-portação de bens de capital e o valor das importações raramente exce-dia 10%,7 o que evidencia uma política bastante liberal. A proteção também não parece ter ocorrido associada à política cambial, pelo que se observa ao comparar as taxas cambiais para transações fmanceiras (art. 10 da Lei 55.762) menos sujeitas a controle, no período em
7BERGSMAN, J. Op. cit., p. 334.
exame, com as taxas de câmbio médias para importação de bens de capital. Ano 1957 1958 1959 1960 1961 Quadro 2-4
Brasii - Taxa de Câmbio para Transações Financeiras e para Importação de Bens de Capital
Taxa de câmbio para fins do Art. 10 da
Lei 55.762 ( 1 )
0,0757 0,1293 0,1565 0,1896 0,2723
Taxa de câmbio· média para importações de bens
de capital ( 2 )
0,0567 0,0732 0,1054 0,1240 0,1835 Relação (2)/0) 0,7490 0,5661 0,6735 0,6540 0,6739
Fontes: (1) Banco Central do Brasil. Capitais Estrangeiros no Brasü; Legislação. 1973, p. 29; (2) Dados Básicos: Ministério da Fazenda. Comúcio Exterior do Brasü. Vários números .
• A taxa de câmbio para bens de capital foi calculada a partir do total de impor-tações do gênero mecânica (antigas seções 61 a 67) em dólares e em cruzeiros. Os valores em cruzeiros incluíam os ágios das compras de divisas em leilões, re-fletindo, assim, seu custo para o importador. As importações do gênero mecâni-ca constituem-se, com exceções de reduzidíssima monta, de bens de mecâni-capital e fo-ram, por isso, preferidas às dos outros gêneros que também incluem bens de capital.
Como se vê, a taxa a que foram feitas importações de bens de capital é bastante inferior àquela a que eram realizadas transações de capital, ao longo de todo o período. Para se comparar a evolução do preço interno das importações de bens de capital com a evolu-ção do preço dos bens de capital de produevolu-ção doméstica ter-se-ia que escolher um indicador do preço dos bens de capital importados. Não se dispondo de tal indicador a nível dos principais países fornecedores para que se pudesse compô-Io por participação em nossa pauta de importação de bens de capital, uma alternativa seria tomar o índice de preços nos EUA para machinery and motive products. Dada a
inexis-tência de um índice de preços para bens de capital no Brasil no perío-do em análise, optou-se pela utilização perío-do índice para metais e produ-tos metalúrgicos.
Naturalmente deve ser encarada com extrema reserva a compa-ração com base nos dados do Quadro 2-5 a seguir, de vez que nem o índice de preços tomado para o Brasil representa a evolução dos pre-ços de bens de capital domésticos, nem o índice dos EUA representa a evolução dos preços de bens de capital importados. Observa-se dos
tais e produtos metalúrgicos cresceram em 185% e os de machinery anti motive products em 5%. Nesse mesmo período a taxa de câmbio para importação de bens de capital se desvalorizou em 224%. Com todas as ressalvas feitas, observa-se que a desvalorização parece ter sido mais rápida que a evolução dos preços internos (os preços nos EUA variaram muito pouco), o que significa que o preço dos bens de capital importados deve ter ficado mais caro em relação ao produto de fabri-cação doméstica, ainda que a variação possa não ter sido muito signifi-cativa. Está claro que esse fato não deve ser encarado como advindo de uma política cambial de feição protecionista, de vez que as varia-ções cambiais ligavam-se basicamente aos problemas de balanço de pagamen tos.
Quadro 2-5
índices de Preços Selecionados, Brasil e EUA e Taxa de Câmbio para Importação de Bens de Capital
Metais e Produtos Ano Metalúrgicos - Brasil
Base 1965/67 = 100
(1)
1957t 3,00
1958 4,33
1959 6,22
1960 6,59
1961 8,55
Machinery and Motive Products - EUA Base 1967 = 100
( 2 ) 87,0 89,2 91,1 91,4 91,3
Taxa de câmbio para importações de bens
de capital ( 3 ) 0,0567 0,0732 0,1054 0,1240 0,1835 Fontes: (1) Conjuntura EconômÍCtl. Separata do v. 27, n. 12, dez./73; (2) Statis-tictzl AbltTtlct 01 The United Stateg. U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census - vários números; (3) Quadro 2-4.
Outro aspecto a merecer análise são os grupos executivos criados durante o governo Kubitschek com o intuito de dar andamento· aos objetivos estabelecidos no Programa de Metas. O pioneiro da geração dos grupos executivos, o GElA - Grupo Executivo da Indústria Auto-mobilística, deve ser examinado, porque constitui o modelo pelo qual se pautaram os que se destinaram a estimular a implantação de seg-mentos específicos da indústria de bens de capital. Frise-se que antes do surgimento do GElA Gunho de 1956) não se poderia falar com propriedade na existência de uma indústria automobilística no Brasil, visto que o máximo que existia eram operações de montagem. O
p0-der de atração do GElA baseava-se num conjunto de estímulos
didos aos fabricantes estrangeiros. Assim, o equipamento industrial completo poderia enquadrar-se nas disposições da Instrução 113 e aquele que não se enquadrava, por incompleto, recebia tratamento cambial favorável. Adicionalmente, e por período que se estendeu até 1961, tais equipamentos eram isentos de imposto sobre importação. Tentava-se conjugar exigências de nacionalização de inúmeros compo-nentes com tratamento favorável à importação daqueles que a critério do órgão não poderiam ainda ser substituídos.8 O papel do GElA, no tocante à indústria de componentes, foi importante no sentido de estimular a participação de empresas brasileiras e evitar a verticali-zação.
O programa automobilístico teve vários efeitos sobre a indústria de bens de capital. Por um lado a instalação dessa indústria ,e da de componentes criou um mercado para uma série de bens de' capital (como por exemplo, máquinas-ferramenta). Por outro lado, há indica-ções claras de que muitas empresas automobilísticas procuraram indu-zir fornecedores de suas matrizes a instalarem fábricas no Brasil. Adi-cionalmente, a montagem de uma indústria de componentes facilitou a implantação de segmentos de bens de capital no âmbito da indústria de material de transporte. De modo geral, os fabricantes estrangeiros parecem ter sido induzidos a instalar fábricas no Brasil por receio de,
após a instalação de concorrentes, verem suas exportações dificul-tadas.
A experiência do GElA multiplicou-se, atingindo vários segmen-tos de bens de capital ainda no governo Kubitschek, com a implan-tação dos Grupos Executivos da Indústria de Construção Naval (GEI-CON, posteriormente Grupo Executivo da Indústria Naval - GEIN, incluindo as indústrias complementares), da Indústria Mecânica Pesada (GEIMAPE) e da Indústria de Tratores e Máquinas Rodoviárias (GEI-MAR). Criou-se ainda, em 1958, o Grupo de Trabalho da Indústria de Material Ferroviário. De modo geral os estímulos concedidos e os esquemas de atuação eram semelhantes ao do GElA. N9 tocante à construção naval induziu-se ao reequipamento dos antigos estaleiros nacionais de reparos (CCN, EMAQ, Caneco e Só), tendo em vista a produção de embarcações com mais de 1.000 toneladas de porte bruto, além da instalação da Verolme e da Ishikawajima com capaci-dade produtiva bem maior que as concorrentes nacionais. No setor de mecânica pesada, diferentemente dos outros, as empresas que ingres-savam no setor pareciam não vir atraídas propriamente pelos estímu-los governamentais, mas pelas possibilidades de mercado abertas a partir dos grandes programas de infra-estrutura.
8Ver a respeito GORDON, L. e GROMMERS, E.L. Op. cit., esp. capo IV.
to com o qual a indústria de bens de capital pudesse ter sido benefi-ciada, há pouco a se registrar, pois o BNDE em seus primeiros anos de atuação estava voltado principalmente para a colaboração fmanceira ao setor público (padrão que só mudará após 1968), em grande parte destinada aos setores de energia elétrica, siderurgia e transporte. Assim, não havia qualquer forma de estímulo efetivo e direto às em-presas domésticas produtoras de bens de capital em escala significa-tiva.
2.3.2 Evolução da Produção Interna e da Importação de Bens de Capital
Não são muitos os indicadores disponíveis para que se possa examinar de maneira adequada a evolução da produção interna. No que se refere à indústria mecânica, dispõe-se de um índice de produto real e de informações referentes às importações (antigas seções 61 a 61). A indústria mecânica presta-se a esse tipo de utilização por ser a única em que a maior parte da produção compõe-se de bens de capital. No que se refere à importação, ela também é esmagadoramente com-posta de bens de capital. Assim, ainda que essa informação não se refira exclusivamente a bens de capital (e deixe de fora os bens de capital agrupados em outros gêneros da indústria de transformação) é perfeitamente utilizável para os fms que se tem em mente.
Os
dadosdo Quadro 2-6, a seguir, permitem a observação da evoluçllo da pro-duçlo interna e da importação de bens classificados na indústria mecânica.
Os dados do Quadro 2-6 apontam um crescimento de 11,7% das importações, e de 93,4% da produção interna no período 1958/ /1961.
A diferença entre as taxas de crescimento acima mencionadas e o fato de que nada faz supor que fenômeno inverso tenha ocorrido com os bens de capital dos demais gêneros industriais (material elétri-co e de elétri-comunicações, material de transporte e metalurgia) indica que, com ressalvas quanto à ordem de grandeza. pode-se supor que toda a indústria de bens de capital experimentou significativo crescimento no período.
Não obstante, no que se refere ao segmento produtor de
máqui-nas-ferramenta, informações referentes à evolução da produção inter-na e das importações, em peso (não se dispõe de dados em valor sobre a produçlo interna) apontam crescimento ligeiramente superior das importações em relação à produção doméstica (176,6% contra 160,5% no período 1956/1961).
\
No período 1956/1961 inicia-se a produção de inúmeros outros bens de capital, como por exemplo caminhões, ônibus, tratores agríco-las, aviões e navios, cuja evolução pode ser observada no Quadro 2-7.
Ano
1956 1957 1958 1959 1960 1961
Quadro 2-6
Brasil - Indústria Mecânica - Evolução da Produção Doméstica e da Importação
índice de Produto Real (1955 = 100)
(1)
115,0 110,3 119,3 134,9 171,8 213,3
Importação
Crs
1.000,00(2 )
10.026 15.586 19.033 27.032 32.904 56.309
US S 1.000,00
274.720 260.185 256.429 265.258 306.927
Fontes: (1) Revista ConjuntlD'a Econômica. n. 9, 1971; (2) Min. da Fazenda. Com. Exterior do Bram, vários números.
• Os dados de importação referem« à soma das antigas seções 61 a 67. Aqueles em cruzeiros incluem os ágios decorrentes da venda de disponiblidades cambiais nas Bolsas de Fundos Públicos do país. Para o ano de 1961, os valores em cru-zeiros das importações ímanciadas e sem cobertura cambial obtidas com a con-versão, respectivamente, pela taxa de câmbio de custo e a da paridade oficial de-clarada pelo FMI passaram, após as Instruções 204/61 e 208//61 da SUMOC, a ser obtidos pela taxa média de câmbio livre.
Quadro 2-7
Brasil - Produção de Alguns Bens de Capital Selecionados
Caminhões Ônibus Tratores Embarcações Aviões Leves Ano (unidades) (unidades) (unidades) entregues (em TPB) (unidades)
( 1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )
1956
1957 18.007 498 5
1958 30.014 658 5
1959 38.353 1.307 13
1960 39.791 1.896 37 52
1961 28.878 1.615 2.430 8.900 64
Fontes: (1), (2) e (3) ANFAVEA - Indústria Automobilística Brasileira, novo 1972; (4) SUNAMAM; (5) Embraer.
material elétrico (GE, Siemens e Brown-Boveri) instalam-se no país nesse período. Como se pode observar, além da implantação extre-mamente rápida dos segmentos produtores de bens duráveis à qual usualmente se dá atenção exclusiva, o período 1956/1961 comporta também crescimento significativo do setor de bens de capital, em grande parte dependente da instalação de subsidiárias de grandes empresas estrangeiras.
Apreciando alguns resultados do Censo Industrial de 1960 e comparando-os com os do Censo Industrial de 1950 pode-se extrair ainda algumas conclusões importantes.
Os dados do Quadro 2-8 mostram a participação crescente da indústria de bens de capital ao longo da década de 1950. Muito em-bora grande parte da expansão dos gêneros material elétrico e de co-municações e material de transporte se deva aos segmentos produtores de bens duráveis de consumo, o crescimento de participação da indús-tria mecânica desfaz quaisquer dúvidas, de vez que se deve majoritaria-mente aos segmentos produtores de bens de capital.~, assim, nas con-dições que as informações disponíveis permitiram descrever na presen-te seção, que o setor de bens de capital irá enfrentar o período reces-sivo 1962/1967.
2.4 O Setor de Bens de Capital Durante a Recessão 1962/67
2.4.1 A Atuação Governamental e seu Impacto sobre o Setor
Em termos de política governamental, em função da indefmição devida à crise política e econômica que o país viveu nos primeiros
Quadro 2-8
Brasil - Participação de Gêneros Selecionados no Total da Indústria de Transformação: Valor da Produção e Valor da Transformação
Industrial, 1949 e 1959
Mecânica Mat. Elétrico e de Comunicação Mat. de Transporte
Valor da Produção
1949 1959
(%) (%)
1,60
1,40 2,30
2,85
3,98 6,79 Fonte: Censos Industriais de 1950 e 1960.
Valor da
Transf. Industrial
1949 1959
(%) (%)
2,13
1,60 2,22
3,45
3,99 7,59
anos da década de 1960, só tem sentido analisar a atuação governa-mental no concernente ao setor de bens de capital após 1964. Portan-to, o tratamento do tema do presente item para efeitos práticos se res-tringirá ao período 1964/1967, quando importantes modificações começaram a se operar.
Assim, foi significativa a criação, em abril de 1964, da Comissão de Desenvolvimento Industrial que passou a reunir os antigos grupos executivos vinculados à implantação e expansão de diversos setores industriais, sendo sua fmalidade conceder estímulos a investimentos na indústria. No entanto, além do fraco poder da CDI, a época da re-cessão também não era propícia a um desempenho mais significativo, o que fez com que - o número de projetos tendo crescido - os mon-tantes correspondentes ainda fossem acanhados. A influência da Co-missão só se fará sentir efetivamente no período seguinte.
Ano
1964 1965 1966 1967
Quadro 2-9
Comissão de Desenvolvimento Industrial - Projetos e Valor do Investimento
Número de projetos
17 62 158 286
Valor do investimento fIxo
EmCrS Em USS
15.889 13.241
218.406 182.006
784.331 356.514
1.306.644 481.268
Fonte:ABDIB Infomlll. n. 83, maio/1971 , p. 8.
De grande importância foram, sem dúvida, as mudanças, em tennos práticos, observadas na taxa cambial vigente para os bens de capital importados. A esse respeito a passagem das mercadorias enqua-dradas na categoria geral ao mercado livre em 1961 parece ter indu-zido uma redução do diferencial antes existente entre a taxa de câm-bio para operações fmanceiras e aquela para importação de bens de capital, tendo esta não obstante pennanecido valorizada em relaçlo àquela. O contraste com a situação do período anterior em que o refe-rido diferencial era significativo é bastante evidente e a redução do diferencial pode ser observada no Quadro 2-10.
Para uma avaliação mais completa dos efeitos da política cam-bial sobre a importação de bens de capital ter-se-ia que comparar, como já se fez anterionnente, a evolução de preços de bens de capital produzidos internamente e importados com a evolução da taxa de câmbio relevante. Não obstante, os problemas levantados para o
luçã'o da inflaçã'o duran te os anos 1962/1 % 7. Assim, as magnitudes envolvidas seriam extremamente elevadas (os preços de metais e pro-dutos metalúrgicos cresceram em 1.315,2% no período, enquanto a taxa de câmbio para bens de capital se desvalorizou em 1.294,3%) e qualquer conclusã'o sc;.ria por demais frágil. Tal análise, portanto, nã'o será feita para o período em exame.
Ano 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Quadro 2-10
Brasil - Taxas Cambiais para Operações Financeiras e para Importação de Bens de Capital
Taxa de câmbio CrS/USS para fins do art. 10 da
Lei 55.762 (1) 0,2723 0,3877 0,5770 1,2711 1,8914 2,2163 2,6622
Taxa de câmbio CrS/USS· para a importação de
bens de capital ( 2 ) 0,1835 0,3389 0,5319 0,9772 1,7087 2,1430 2,5586 (2)/(1) 0,6739 0,8741 0,9218 0,7688 0,9034 0,9669 0,9611
Fontes: ( 1 ) Banco Central do Brasil. Capitais Estrtlngeiros no Bram; Legislação, 1973. p. 219; ( 2) Dados Básicos: Ministério da Fazenda. Combcio Exterior do Bram .
• A taxa de câmbio para bens de capital foi obtida a partir dos dados em dólares e em cruzeiros das importações das antigas seções 61 a 67. Para 1961/63 os valo-res em cruzeiros das importações financeiras e sem cobertura cambial foram convertidos pela taxa média de câmbio livre. Para 1964/67 os valores em cruzei-ros representam o custo das aquisições de cambiais no mercado de câmbio livre. Os valores das importações fmanciadas e sem cobertura cambial são resultantes da aplicação da taxa de câmbio livre em vigor na época da importação efetiva.
Todavia, as tarifas estabelecidas não constituem o maior proble-ma, mas aquelas efetivamente pagas, sendo que no caso da indústria de bens de capital, de modo geral, as tarifas já sã'o fIXadas em nível com-parativamente baixo (em relação aos demais setores) e as isenções e reduções conduzem a alíquotas médias ainda menores. Esse tipo de problema parece ter continuado a existir ao longo do período em exame. Em função das diversas considerações anteriores parece possí-vel, portanto, caracterizar a política governamental no tocante ao setor de bens de capital como nã'o protecionista no período 1962/67.
No que diz respeito ao crédito à indústria de bens de capital, observa-se que o sistema fmanceiro sofreu inúmeras transformações
que, . pelo menos técnica e organizacionalmente, o capacitaram a ofe-recer à indústria maior parcela de crédito para investimento. Assim, de um lado surgiram instituições especializadas e, de outro, ocorreu a reduçlo da participaçio dos haveres monetários no total de haveres em poder do público nio bancário.
A
criação daFINAME
em 1964,já aponta, em termos do sistema BNDE, para algumas modificações pos-teriores, embora durante o período seu volume de deferimentos ainda tenha sido pouco expressivo.2.4.2 Evoluçiio da Produçiio e das Importações de Bens de Capital
:e
importante que se observe que no período 1964/67 as refor-mulll9ÕCs em toda a estrutura e política de comércio exterior doBra-an,
bem como a disponibilidade de recursos externos, ainda nio ha-viam tido impacto significativo sobre as importações de bens de capi-tal. Para fins de análise, é interessante que se observe a evolução da importaçio de produtos classificados na indústria mecânica, transcrita no Quadro 2-11.Ano
1962 1963 1964
19~
1966 1967
Quadro 2-11
Brasil- Importações de Produtos Classificados na Indústria Mecânica, 1962/67
I m . s das antigas seções 61 a 67 - CIF
Cr$l. ,00 USSl.OOO,OO
93.945 277.186
124.832 234.706
175.988 180.086
253.497 148.359
456.174 212.863
646.701 252.755
Fonte: Ministério da Fazenda. Combclo Exterior do Brtllil, vários números.
As importaçõeS de bens do gênero mecânica, quase totalmente compostas de bens de capital, evidenciam apenas um comportamento típico de um período de recessio, ou seja, queda seguida de recupera-çlo até o patamar anterior. Assim, no período em análise, as políticas
de estímulo
às
importações de bens de capital Dio parecem ter tido efeitos práticos significativos.No tocante
1
produçlo interna, o desempenho do setor deve ser visto, em boa parte e pelo menos nos anos iniciais do período, como um desdobramento dos planos de substituiçio de üoportações inicia-das no governo Kubitschek.razoável.
O aumento da participação da produçA'o nacional em relação à oferta global parece evidente, independentemente de eventuais erros de estimativa que possam existir.
Quadro 2-12
Importação, Produção Nacional e Oferta Total por Ramos Selecionados do Setor de Bens de Capital
(valores em milhões de cruzeiros correntes)
Ano Maquinaria Mecânica
A 8 C D
1960 30.962 7.298 38.260 19,07
1961 58.872 11.470 70.342 16,31
1962 104.744 20.658 125.402 16,47
1963 154:741 34.755 189.496 18,34
1964 195.405 71.101 266.506 26,68
1965 271.493 108.540 380.Q33 28,56
1966 440.810 176.640 617.450 28,61
Ano Maquinaria Elétrica
A 8 C D
1960 5.746 12.908 18.654 69,75
1961 13.653 22.311 35.964 62,04
1962 23.423 41.129 64.552 63,71
1963 30.281 71.665 101.946 70,30
1964 42.622 115.613 158.235 73,06
1965 51.378 144.092 195.470 73,72
1966 115.683 215.739 331.422 65,09
Ano A Equipamentos Industriais 8
C D
1960 3.466 4.690 8.156 57,51
1961 6.344 7.021 13.365 52,53
1962 9.389 8.147 17.536 46,46
1963 21.245 28.775 50.020 57,53
1964 19.117 62.852 81.969 76,68
1965 20.342 113.709 134.051 84,82
1966 36.764 134.906 171.070 78,58
Notas: (A) Importação - Valores CIF; (8) Produção Nacional; (C) Oferta Total;
(D) Puticipação percentual da produção nacional.
Fonte: Programa Estratégico de Desenvolvimento 1968/70, Ministério do Plane-jamento e Coordenação Geral, Indústria Mecânica e Elétrica, ag. 1968. p. 26.
conto
Quadro 2-12
Importação, Produção Nacional e Oferta Total por Ramos Selecionados do Setor de Bens de Capital
(valores em milhões de cruzeiros correntes) cOnto
Ano A Material Ferroviário
B C D
1960 4.742 4.434 9.176 48,32
1961 8.926 745 9.671 7,70
1962 18.044 5.391 23.435 23,00
1963 17.745 13.721 31.466 43,61
1964 27.579 38.161 65.740 58,05
1965 15.648 58.471 74.119 78,89
1966 26.738 91.579 118.317 77,40
Ano A Construção Naval
B C D
1960 13.680 812 14.492 5,63
1961 12.533 5.642 18.175 31,04
1962 11.589 13.506 25.095 53,82
1963 11.884 27.334 39.218 69,70
1964 9.559 75.529 85.088 88,77
1965 1.826 134.338 136.164 98,66
1966 4.757 144.643 149.400 96,82
Ano
A
Mág,uinas Rodoviária$
B C D
1960 9.690 807 10.497 7,69
1961 8.895 963 9.858 9,77
1962 17.408 5.545 22.953 24,16
1963 20.106 37.354 57.460 65,01
1964 45.443 56.171 101.614 55,28
1965 77.718 85.412 163.130 52,36
1966 177.498 112.993 290.491 38,90
Ano A B Tratores C D
1960 9.508 836 10.344 8,08
1961 8.086 2.854 10.940 26,09
1962 3.814 27.462 31.276 87,80
1963 7.814 63.173 70.987 88,99
1964 12.536 153.754 166.290 92,46
1965 8.346 228.982 237.328 96,48
1966 21.559 273.308 294.867 92,69
Notas: (A) Importação - Valores CIF; (B) Produção Nacional; (C) Oferta Total;
(D) Participação percentual da produção nacional.
Fonte: Programa Estratégico de Desenvolvimento 1968/70, Ministério do Plane-jamento e Coordenação Geral, Indústria Mecânica e Elétrica, ag. 1968. p. 26.
"tipicamente" de bens de capital para a indústria e infra-estrutura, a participação nacional cresceu mais lentamente, mantendo-se em ma-quinaria mecânica a níveis baixíssimos. Adicionalmente frise-se que esse aumento de participação ocorre num contexto de recessfo em que, com as importações de bens de capital virtualmente estagnadas (em parte devido a problemas de capacidade de importação) as deman-das adicionais deveriam, evidentemente, dirigir-se aos produtores inter-nos. Por seu turno, a existência de uma indústria de componentes ori-ginada da implantação da indústria automobilística colaborou para a rápida expansão da prOOJIção interna em ramos como tratores, e mes-mo para alguns tipos de máquinas rodoviárias.
Estatísticas de produção física para alguns tipos de bens de capi-tal permitem, ainda que parcialmente se observe de que forma o texto geral de recessão afetou os segmentos respectivos, e se eles con-seguiram manter ou não seu dinamismo. Tais produtos situam-se prin-cipalmente no gênero material de transporte e constam do Quadro 2-13.
Quadro 2-13
Brasil - Produção Física de Bens de Capital Selecionados
1962 1963 1964 1965 1966 1967
1) Caminhões
(unidades) 38.743 22.851 22.249 22.653 32.299 28.561 2) Ônibus
(unidades) 927 1.179 2.245 2.306 2.754 3.245 3) Embarcações
en-tregues (em TPB) 22.740 49.150 56.580 16.620 16.340 78.380 4) Aviões leves
(unidades) 48 31 20 15 44 12
5) Vagões
(uni4lades) 584 1.278 614 825 463 1.241
6) Locomotivas
(unidades) 4 10
7) Tratores
(unidades) 8.826 11.018 13.302 10.804 12.709 8.868 8) Colheitadeiras
combinadas auto-motrizes
(unidades) 1 12 28
Fontes: (1), (2) e (7) ANFAVEA - Indústria Automobilística Brasileira, novo 1972; (3) SUNAMAM; (4) Embraer; (5) e (6) Sindicato da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários no Estado de S. Paulo; (8) BNDE. M4quÍ1fIls e Implementos Agr(collls. ag. 1977, p. 18. Série Estudos Setoriais.
As estatísticas mostram, ao lado do surgimento de alguns ramos novos durante o período de recessão, um importante fenôlJ}eno que afeta de modo generalizado o setor de bens de capital: a grancle oscila-ção da demanda. Essa oscilaoscila-ção além dos efeitos nefastos sobre a ren-tabilidade das empresas é, em parte, também responsável pelo baixo nível tecnológico de inúmeros produtos e, em outros segmentos além dos constantes na tabela acima, pelo grande número de produtos fa-bricados por uma mesma empresa (tentativa de compensar oscilações da demanda não coincidentes no tempo). Constata-se assim que esse tipo de problema, observado também atualmente, não é absolutamen-te novo na indústria de bens de capital.
2.S O Setor de Bens de Capital no Período 1968/1973
o
período cuja discussão ora se inicia é de grande importância sob inúmeros aspectos. Por um lado corresponde a uma época de grande expansão industrial e grande abertura para o exterior, tanto em termos de comércio como de fluxo de capitais. Por outro lado, trata-se de um período em que modificações signiftcativas começam a se ope-rar na política governamental, conferindo à indústria de bens de capi-tal importância que em nenhuma ocasião anterior-havia sido cogitada. Parece acertado, portanto, considerar as alterações de política relevan-tes, lembrando ainda que a política governamental para a indústria de bens de capital na década de 1970 será objeto de análise em capítulo posterior, o que fará com que a análise da política governamental na presente seção seja necessariamente limitada Posteriormente será considerado o desempenho da indústria e a evolução das importações, visando criar um quadro indicativo da maneira pela qual se dava o atendimento do mercado.2.5.1 A Atuação Governamental sobre a Indústria de Bens de Capital
Durante o período em estudo foram inúmeras as formas através das quais a atuação governamental influenciou o crescimento do setor. Tem-se, como é evidente, a função normativa do próprio Estado no que se refere à política industrial em geral e ao setor de bens de capi-tal em particular. Essa função refere-se não apenas à tegulamentaçio interna, mas também àquela referente ao relacionamento com o exte-rior. Assim, tratar-se-ia de considerar a atuação nlo apenas do CDI, mas também de órgãos como o Conselho de Política Aduaneira, Banco Central, Cacex, além de outros de âmbito de atuação algo mais especí-ftco.
No que se refere ao CDI, iniciam-se em agosto de 1969 algumas transformações, passando a antiga Comissão de Desenvolvimento
dustrial a denominar:-se Conselho de Desenvolvimento Industrial, com poderes fonnalmente ampliadós e detendo teoricamente a responsabi-lidade da fonnulaç'o da política industrial.
Os
segmentos mais impor-tantes da indústria de transfonnação passam a integrar os seus diversos grupos executivos. Nlo obstante, o 6rglo carecia de poder real tanto em tennos de autonomia para conceder incentivos independementé de outras instâncias, quanto de recursos materiais e humanos. O princi-pal problema no tocante à indústria doméstica de bens de capital pa-recia advir do fato de que os incentivos, favorecendo basicamente a importação de equipamentos, não contemplavam as aquisições no mercado interno com vantagens equivalentes.O Conselho de Désenvolvimento Industrial sofreria nova refor-mulaç'o em dezembro· de 1970, tanto em tennos de estrutura interna de funcionamento, com a criação de um Grupo de Estudo de Projetos, instância decisória, assistida pelos diversos grupos setoriais, como eni tennos dos,incentivos administrados pelo 6rg1o. No tocante aos incen-tivos incluía-se a isenç'o do imposto de importaçl'o e do IPI sobre os bens de capital importados, e o crédito de IPI ao comprador de equi-pamento nacional além da depreciação acelerada para efeitos de im-posto de renda.9 Na medida em que os incentivos à importação eram, via de regra, mais significativos do que aqueles referentes à produção doméstica, compreende-se que aquelas tenham sido estimuladas, no período em análise, pela atuação do CDI.
No que se refere à política cambial, ocorreu mudança significa-tiva em agosto de 1968 com a introduç'o da prática das minidesvalo-rizações. Tal procedimento, reduzindo em muito a incerteza típica dos regimes cambiais em que as alterações são feitas a intervalos longos, veio facilitar, pelo menos parcialmente, o processo de ajuste da taxa cambial às mudanças ocorridas nos esquemas de oferta e demanda de divisas. Adicionalmente, a diferença significativa entre a taxa de câm-bio utilizada para transações fmanceiras e aquela vigente para as im-portações de bens de capital do atual capítulo 84, confonne já refe-rido, reduziu-se consideravelmente. Não obstante, há ainda que se considerar a evoluç'o da taxa cambial à luz das variações de preços doméstico e externo (ou nos EUA, no caso da taxa cruzeiro/d61ar) e mais particularmente do preço dos bens de capital de produçl'o do-méstica e aqueles produzidos fora do país. como já se chamou a aten-ção. Para tanto, no período em análise, diferentemente dos anteriores, já se dispõe de um índice de preços de máquinas e equipamentos do-mésticos a partir de 1969, o que permite que se abandone o índice de
9Ver os Decretos-Lei nO•s 1.136 e 1.137 de 07 de dezembro de 1970 e o Decreto nl? 67.707 da mesma data, que estabelecem as condições de concessão dos refe-ridos incentivos.
preços de metais e produtos metalúrgicos antes utilizado como indi-cador daquele.
Observe-se a esse respeito o Quadro 2-14. Como se pode ver, caso se tome como base de comparação os índices gerais de preços do Brasil e EUA relacionados na coluna (3), a desvalorização cambial, coluna (5), teria sido algo insuficiente, no período, para restaurar a paridade de 1969. Assim, teria ocorrido, em relação a 1969, uma valo-rização cambial, embora de pequena monta. Não obstante, ao se ob-servar a evolução do índice de preços relativos de máquinas e equipa-mentos (ex-veículos) Brasil/EUA, é visível que a desvalorização cam-bial ocorreu em ritmo mais acelerado do que o aumento dos preços dos bens de capital domésticos em relação aos de fabricação norte--americana. Desse modo, em tennos apenas de uma análise parcial, a evolução da taxa de câmbio teria concorrido para uma maior competi-tividade dos bens de capital de fabricação nacional. Está claro que, a ser mantida a paridade de 1969 antes referida, a desvaloriZação teria que ser mais intensa e, portanto, a competitividade das máquinas e equipamentos de produção doméstica seria ainda mais favorecida. A análise, em tennos puramente do setor de bens de capital parece indi-car, portanto, que a política cambial não teve efeitos perversos no período 1968/1973 como um todo.
No tocante à atuação da CACEX em relação aos acordos homo-logados, a evolução da participação nacional no fornecimento de bens de capital não apresentou tendência clara, ao contrário do observado a
Quadro 2-14
Evolução de índices de Preços Selecionados no Brasil e nos EUA e da Taxa Cambial - Base 1969 = 1 ()()
1969 1970 1971 ,1972 1973
1) BrasillGP (col. 2) 100 120 144 169 193
2) EUA-Wholesale Price Index 100 104 107 112 126
3) (1 ) 1 ( 2 ) . 100 100 115 135 151 153
4) fndice de preços relativos de máquinas e equipamentos
(ex-veículos) Brasil/EUA 100 108 118 131 144
5) fndice da taxa cambial
Cr$ 1 USS 100 112 130 146 150
Fonte: Conjuntura Econômictl, lntenwtio1lll1 Financiai Statistictzl Abrtract
01
lhe United States. Dadós computados em A lndúrtritl Brtuileira de Bens de
Capi-tal: Origens, Situação Recente e Penpectivas. Rio de Janeiro,lBREfFGV, maiol
11979, Quadro V -30.
situação em termos sintéticos.
Tal situação pode se dever a inúmeros fatores, entre os quais uma apuração de similaridade menos rígida do que a observada em anos posteriores e a eventual insuficiência da indústria doméstica de bens de capital para suprir em termos de quantidade e/ou sofisticação os equipamentos demandados. Recorde-se que boa parte da expansão da capacidade produtiva de inúmeros segmentos da indústria de bens de capital só irá efetivamente ser concluída nos anos seguintes.
Em termos de atuação indireta há que se considerar a estrutura de investimentos do setot público para avaliar as características e magnitude dessa componente do dispêndio. Este pode ser quantifi-cado para 1970, abrangendo tanto o governo quanto as empresas pú-blicas. Surge porém um problema, de vez que, nos dados disponíveis, a conceituação de investimentos governamentais em equipamentos refe-re-se não propriamente a bens de capital apenas, mas aos bens duráveis não passíveis de inclusão no item construções, englobando portanto móveis, material de escritório etc.
Quadro 2-15
CACEX - Acordos Homologados: Participação Nacional 1968/73, em Percentagem
Ano
1968 1969 1970 1971 1972 1973
Participação Nacional
51,4 45,0 39,2 54,8 50,6 52,7
Nota: Para o ano de 1973 a participação refere-se não apenas aos acordos, mas também às revisões de acordos homologados naquele ano.
Fonte: CACEX.
Ainda assim, tais informações podem ser úteis para a determina-çã'o de uma certa ordem de grandeza para a demanda estatal. O Qua-dro 2-16, por exemplo, indica os investimentos governamentais em equipamentos (União e Estados; Administração Central e Descentrali-zada) por programas para o ano de 1970, por região, permitindo cons-tatar a concentração dos investimentos governamentais no Sudeste, onde se localizavam mais de 2/3 do total. Adicionalmente dispõe-se, para o período 1968/1973, de informações sobre formação bruta de capital fixo do governo na rubrica equipamentos (Quadro 2-17) e sobre a formação bruta de capital fixo das empresas com participação
N
0\
I
11
III IV V VI VII VIII IX X XI
Quadro 2-16
Brasil- Investimentos Governamentais em Equipamentos, Segundo Estrutura Setorial 1970 Unilo e Estados - Administração Direta e Descentralizada, Cr$ 1.000,00
Programas Regmo Norte Regiio Região Regiio Regiio
Nordeste Sudeste Sul Centro~ste
Governo e Administração Geral 9.308 19.859 61.498 12.098 36.004
Agricultura e Recursos Naturais 9.353 12.440 19.771 3.756 2.974
EneIgia 3.877 524 21.705 2.509
Transporte e Comunicação 27.745 10.238 96.754 25.095 15.132
Indústria e Comércio 164 2.273 31.541 1.414 88
Educação e Cultura 5.877 24.837 128.090 17.280 7.349
Habitação e Serviços Urbanos 757 2.023 34.885 289 2.178
Saúde e Saneamento 2.729 9.070 57.252 4.599 5.435
Trabalho, Previdência e Assist. Social 3.304 13.221 95.852 11.750 4.714
Defesa e Segurança Pública 2.104 10.062 401.002 15.224 15.958
Política Exterior 2.582
Total 65.218 104.537 948.350 94.034 92.414
Fonte: Centro de Estudos Fiscais, IBRE/FGV. In: IBRE-FGV. A IndúltrlD Brasileira de Bens de Capital. Quadro IV -5.
Brasil
Quadro 2-17
Brasil- Fonnação Bruta de Capital Fixo, na Rubrica Equipamentos Segundo Esferas de Governo - 1968/73
CrS 1.000.000,00
1968 1969 1970 1971 1972 1973 Total 996,3 1.452,6 1.675,9 1.569,7 2.537,4 3.722,5 1. União 445,5 646,6 814,2 752,8 1.245,8 1.958,5 1.1 Adrn. Central 292,0 279,0 504,4 443,2 798,3 1.133,1 1.2 Adrn. Descentral. 153,5 367,6 309,8 282,6 447,5 825,4 2. Estados 271,0 409,7 490,3 347,9 818,6 1.105,6 2.1
Adrn.
Central 138,7 206,0 236,1 216,1 422,7 523,0 2.2 Adrn. Descentral. 138,3 203,7 254,2 131,8 395,9 582,6 3. Municípios 273,8 396,3 371,4 496,0 473,0 658,4 Fonte: Centro de Estudos Fiscais, IBRE/FGV, A Indústritz Brasileira de Bem deCtzpitlll. Quadro IV - 7.
do governo federal e dos governos estaduais, por setores, para o ano de 1970 (Quadro 2-18). Tais infonnações pennitem visualizar por um lado o ritmo de crescimento do investimento governamental em equi-pamentos e, por outro, observar a participação, em 1970, dos diversos setores de atividade econômica no montante da fonnação bruta de capital fixo das empresas acima referidas. Nesse último caso a maior participação cabia ao setor Serviços, especialmente ao segmento Trans-portes e Telecomunicações, responsável por 49,4% da rubrica equipa-mentos da FBK.F das empreas com participação governamental (cor-respondentes a CrS 2487,4 milhões na época)~ No que se refere à in-dústria a maior parcela coube aos Serviços Industriais de Utilidade
Pú-blica com CrS 2037,9 milhões.
No que
diz
respeito à participação da FBK.F do governo em re-lação à FBK.F total, os dados do Quadro 2-19 esclarecem a questão evidenciando, um tanto inesperadamente, certa tendência à redução.e
importante considerar também os efeitos de programas espe-cíficos, ainda que por vezes não digam diretamente respeito ao setorde bens de capital. Incluem-se nesse caso os programas petroquímico e siderúrgico, de vez que os incentivos à expansão desses dois segmentos resultaram em demanda significativa de máquinas, equipamentos e componentes. Isso ocorreu especialmente após a criação da Petroquisa em 1968 (e da implantação do pólo petroquímico paulista decidida em 1970) e do início de execução de planos de expansão das siderúr-gicas estatais em 1969. Grande parte dos equipamentos necessários eram, entretanto, importados em função, parcialmente, de os