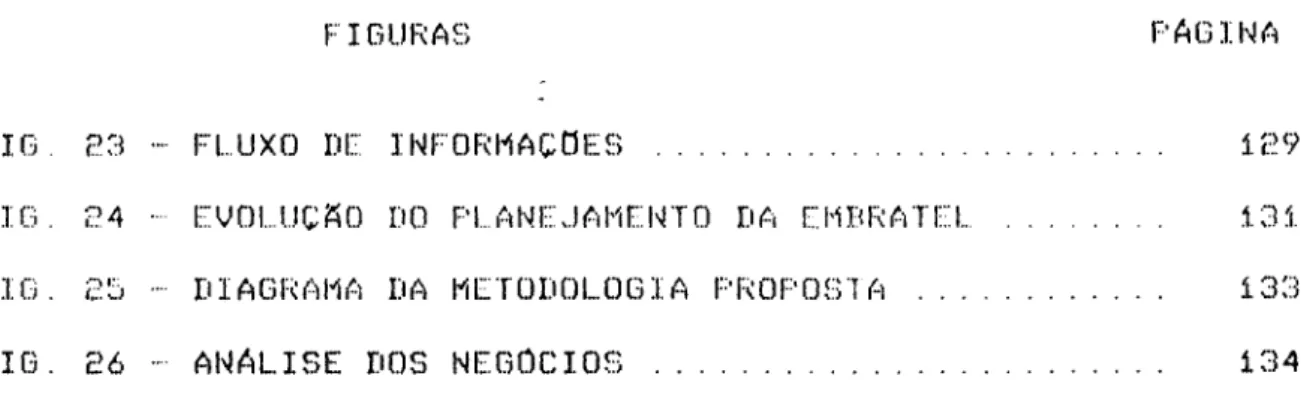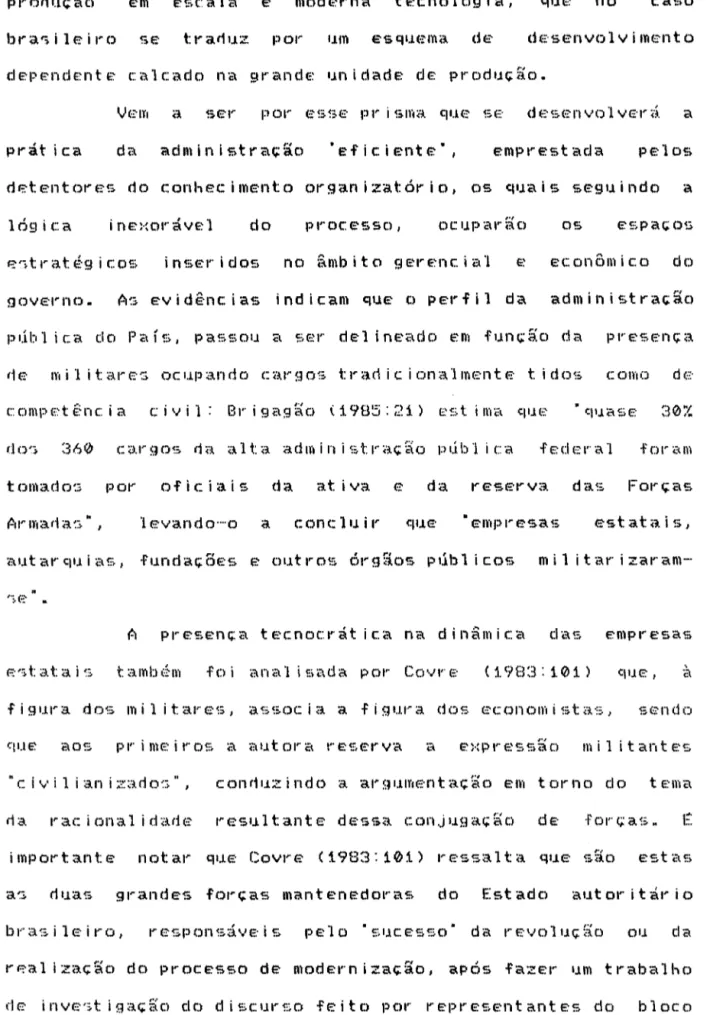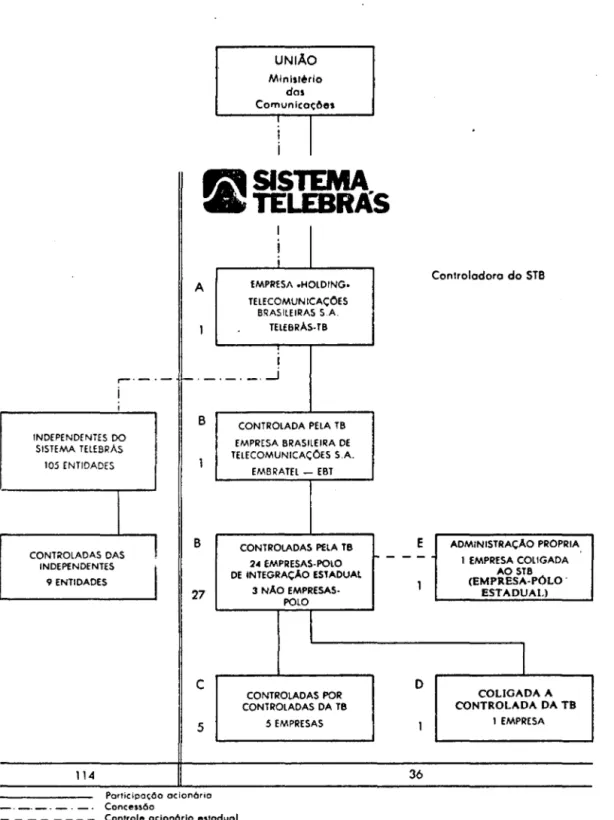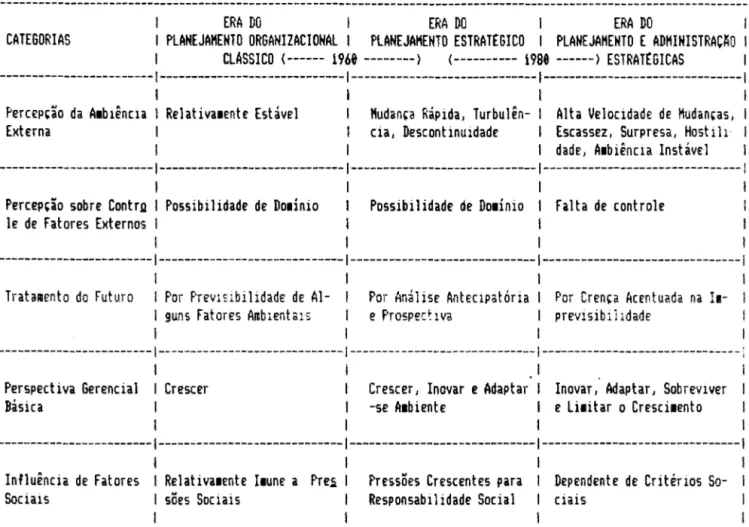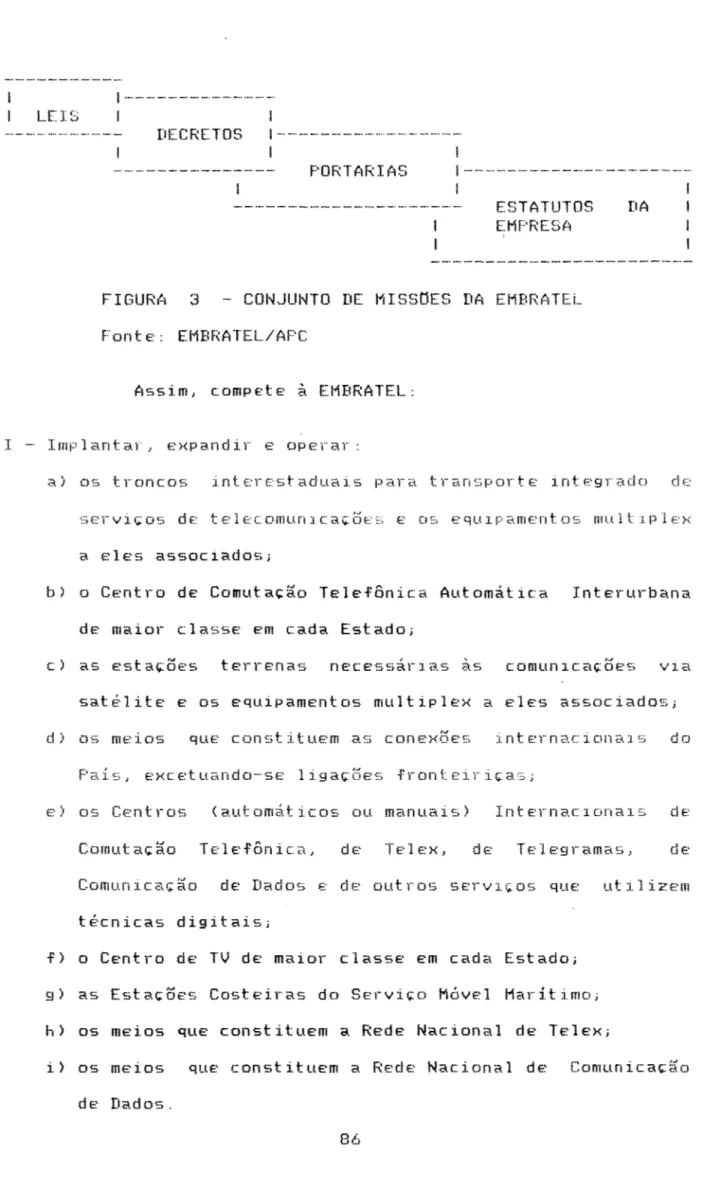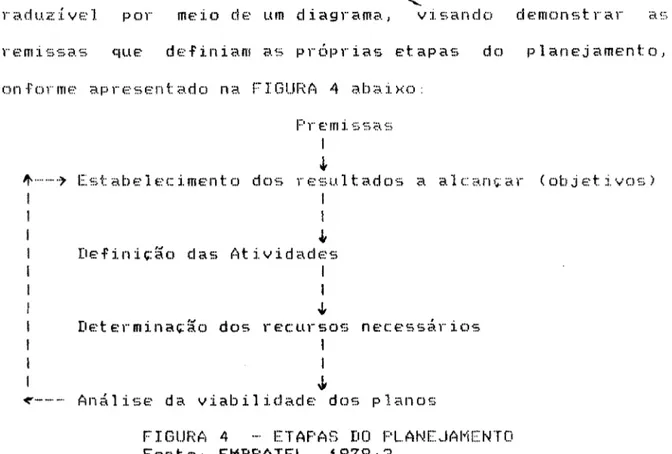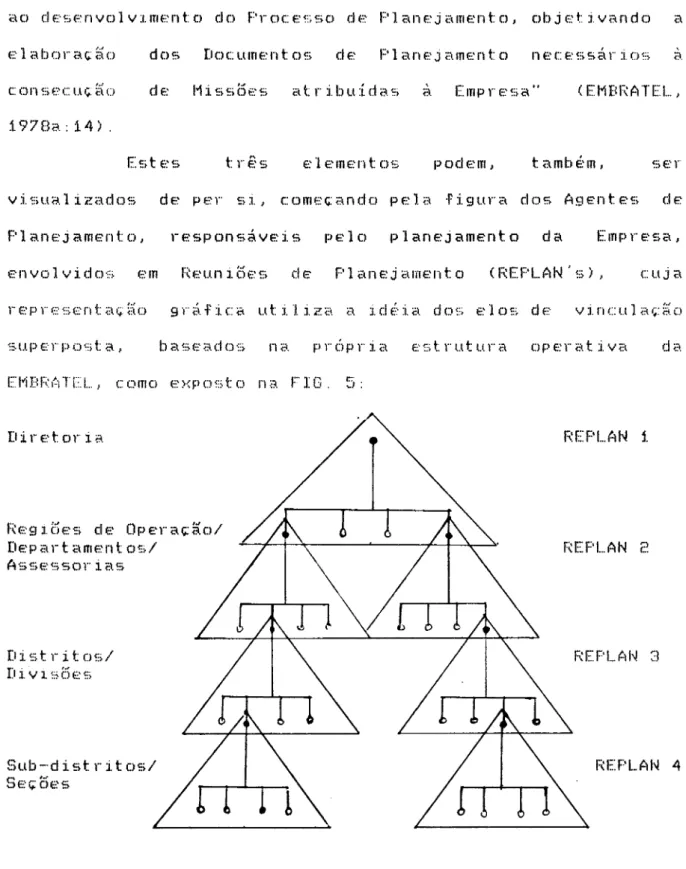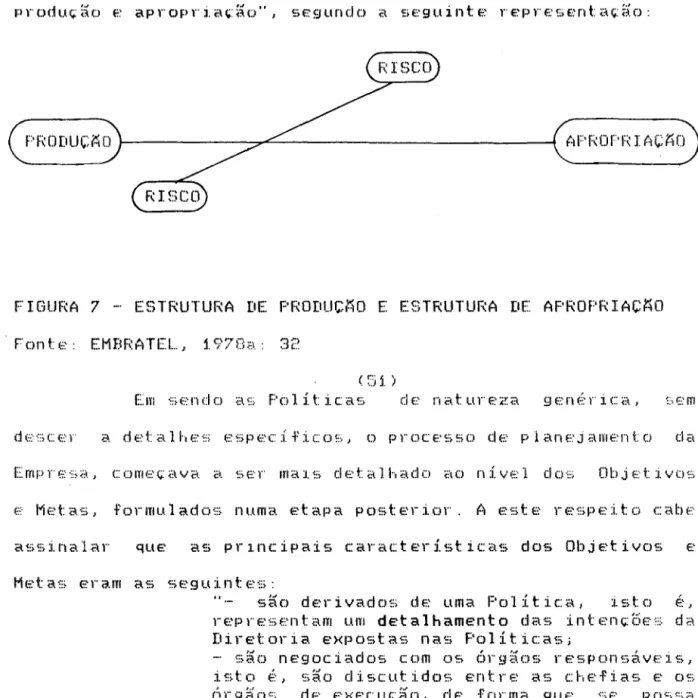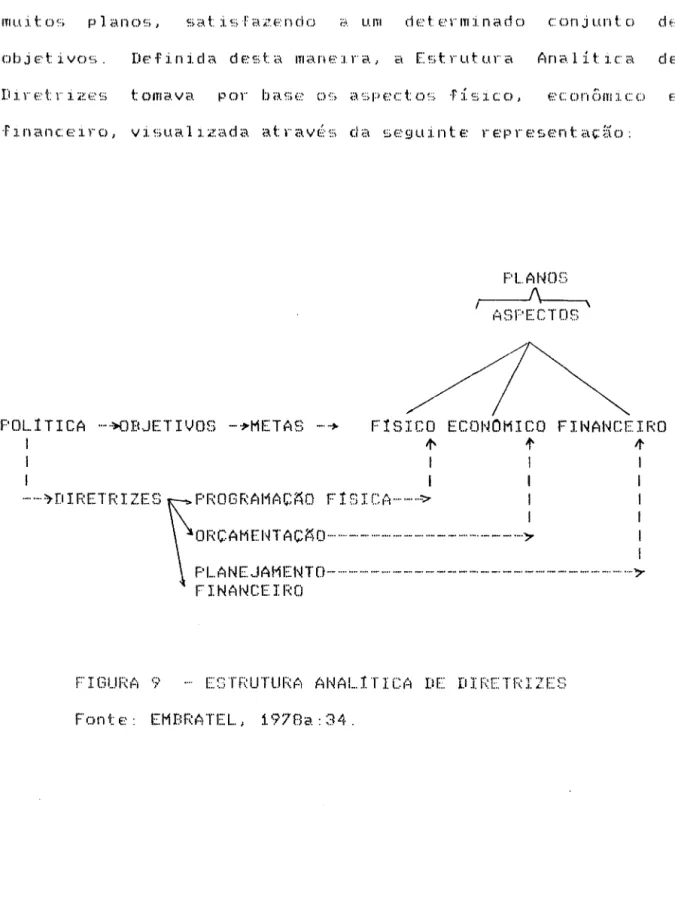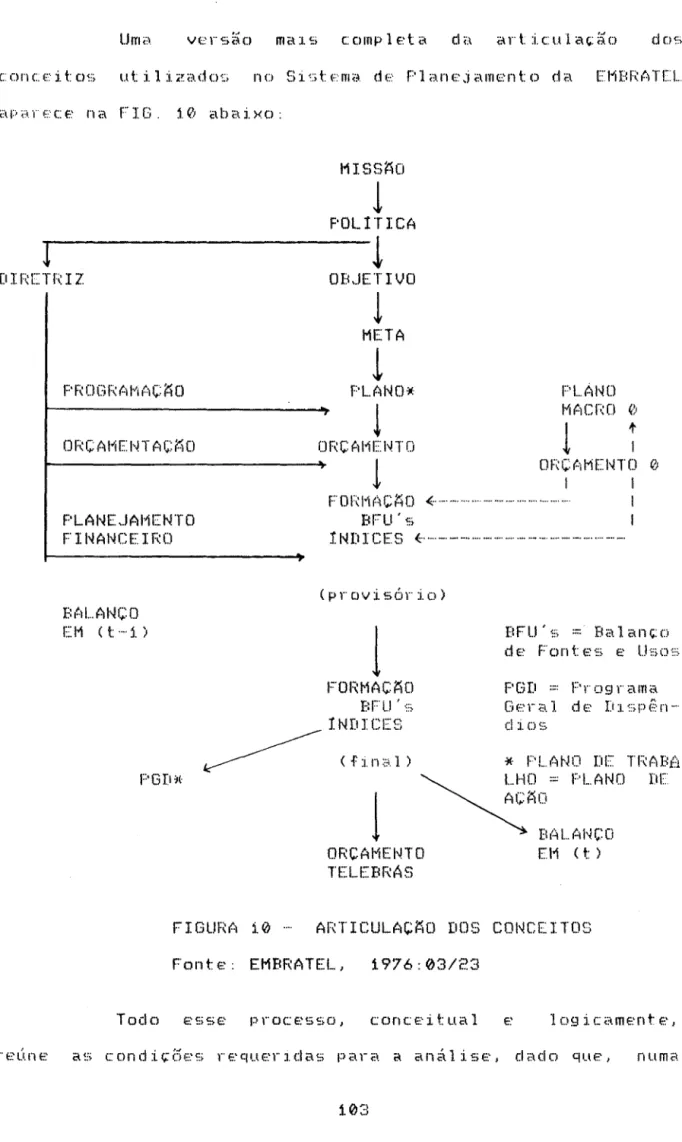FUNDAÇ~O GETULIO VARGAS
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ~O PúBLICA
CI
m
~;O DF MESTI~ t-&l)() EM ADi"í I N I ~;TR AÇ~O P t)13 L. I CA-ESTADO:· O EMPRESARIO E A EMPRESA_
O CASO DA EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES S/A -
EMBRATEL-MONOGRAFIA APRESENTADA
A
ESCOLA DEPDBL.ICA PARA A OBTENÇAo DO GRAU DE MESTRE EM ADM!NISTRAÇ~O PúBL.ICA.
REZILDA RODRIGUES OLIVEIRA
fi JI~ (;0 r;.[ jVI!(:;);~ (,1)[1 [jVj t,Di'i J 1\11 ~~; TF~ ,':!~ i\ '·1 P UH 1..1 C (-., 199004 134
T/EBAP 0488
111111111111111
1000054724·ESTADO: O EMPRESARIO E A EMPRESA. O CASO DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A .- EM13I~ATEL·
MONOGR~FIA DE MESTR~DO APRESENTADA POR
REZILDA RODRIGUES OLIVEIRA
/
//,) I·
/~J//-
/7/
l ~/i/!
, /., ... -... ~ .... _._, ,_.- ... .. ~t ... ... ~; ... :: ... ~ ... , .. ~ ... 0 ' 0 • • • . ' • • • • , . . . - , • • • • • • , - , -. . . . PAULO ROBERTO DE MENDONÇA
T!~ ,'C
i',
°
I'UIl L:;:C,,,
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~--.---.--- ._. ____ ._0 ____
-I
Ei'·n~ J ÇdJ !:: .. JE::I~ Ut\' I j"l C, ':~t: F~ t,!.o; T ti .0· CI.JF~ SO Dl:· !:) OtJT ()F~ (',DU
DO 3D. CI~M ADt'lINISTRt'(~'í~;~ICool
t
aL
~
. ..-)
~
~
Aos meus pais e i~mios, po~ seu amo~
e enco~ajamento que semp~e soube~am
A natureza (dirfamos antes a
realidade) é complexa demais para ser
explorada mesmo aproximadamente, de
modo aleatório. Alguma coisa deve
orientar o cientista, mostrando-lhe
para onde olhar e para o que·olhar, e
esta 'alguma coisa' ainda que possa
ter a duraçio de apenas uma geraçio, i
o paradigma que sua educa,io de
cientista lhe ofereceu·.
(Thomas Kuhn)
i i i
i
, 1
I
I i
AGRADECIMENTOS
j
Ao Professor Paulo Roberto Motta, pela troca
PErmanente de id~ias, fonte de conhecimento, respeito ao livre
pensar e pelo apoio em todos os momentos, gostaria de
expressar meu reconhecimento. Tambim sou grata pelo priviligio
de ti-lo como orientador e amigo.
Ao Professor Enrique Saravia, por sua sabedoria e
valiosos conselhos.
A Professsora Maria Angela Campelo de Melo, pelas
E~t imulantes discussôes esclarecimento de quest6es
fundamentais.
Ao Professor Fernando Guilherme Tenório, por
~ompartilhar id~ias e recursos.
Ao corpo docente e funcionirios da Escola
Brasileira de Administraçio P~bl ica da Fundaçio Get~lio
Vargas, por seus esfolpços em tornar proveitoso o estudo da
arlministraçio p~bl ica brasileira. Tambim estou especialmente
grata aos funcion'rios do N~cleo de Apoio ao Usu~rio (Centro
rle Processamento de Dados) e da Biblioteca da Fundaçio Get~l io
Vargas, por sua inest imivel cooperaçio e profissionalismo.
A
Universidade Federal de Pernambuco, minhaprofunda gratidio pelo apoio ~s minhas aspirações de cursar o
mestrado e garantir sua realizaçio plena. A Coordenaçio de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nrvel Superior CAPES I
Programa Institucional de Capacitaçio de Docentes PICO,
tambim apresento meu reconhecimento por sua contribuiçio ~
Agrad~ço a todos os colegas e pessoas amigas que,
direta ou inrllretamente, tbrnaram possrvel a elaboraçio desta
Monografia. Embora ~5t~s agrad~cim~ntos S~ dirijam a muitos,
endereço-os especialmente ~qUele5 qUE mais de
contribufram para sua realizaçio e fizeram parte
experiincia inesquecível.
perto
desta
~ Empresa Brasileira de Telccomunicaç6es S/A
EMBRATEL, ~m particular a todos os que fazem a Assessoria de
Planejamento e Coordenaçio - APC, bem como a todos os ticnicos
que participaram das entrevistas e propiciaram a oportunidade
de elaborar este trabalho. Na impossibil idade de mencionar a
todos, espero estar-lhes expressando minha profunda gratidio
na pessoa do Dr. Margus Ferreira Pinto, por telrem dedicado
substancial parte do seu escasso tempo em me atender, ouvir e
auxiliarem a converter informaç6es do seu cot idiano
profissional na presente Monografia de Mestrado.
RESUMO
A presente monografia aborda o tema do Lstado
empresária E da EmprEsa Estatal, além de Explorar as dimensôes
paradigmáticas preditas nas tEorias sobre racionalidade na
empresa E sua rela~io com a tEmática do planejamento. Ao lado
desse tratamento te6rico, foi feita a abordagem dE
OI" 9 an i 2a~ ~\o, a Empresa Brasileira de TelEcomunica,ôEs S/A
EMBt=~ATEL , com o intuito de respondEr ao enunciado formal do
problema dE pesquisa, ou seja, como delimitar o paradigma da
racionalidade empresarial através do processo de planejamento
de uma empresa estatal.
do (.:.:"
motiva~io intervencionista, a partir de 1930, foi
pelo fenômEno da empresarlali2açio Estatal juntamente com a
ado~io do paradigma do modelo privado de administraçio para as
Empresas estalais, registrado no PEríodo p6s-64.
estatal na àrea dE tElecomunica,aes, nascendo desse processo,
também foi estudada, à luz da aliança mililar-tEcnocrática que
passou a preponderar no jogO de poder vivenciado no País.
o
Estudo de Caso da EMBRATEL insere-se neSSEcontexto, tendo sido dada rreferincia à eXPoslçio descritiva e
normativa do seu processo de planejamento.No caso, ele aparece
como um elemento EstruturantE daqUIlo qUE vem a SEr a
utilizaçio adequada E Eficient€ dos meios para atingir os fins
SEja a nível da racionalidade interna da EmprEsa,
s(::ja a níVEl da interface que Ela mantém com o ambiente
con fOl"IlI€-: ficou Evidenciado ao longo de toda a
evoluçio qUE foi retratada.
1 I
-j
~
·l
:i,mpoltantc,;.: p'.:\)"ê!\ ~:;c c he:':g ai" ac) COnhECl.ITI€':nto d<:\ )"aC:l,on,;\l:lcl,,\r1e d"',,
I
EMBRATEL. tlda COITIO ulTla Empresa EfIciEnte E bEm ,:\ d m :i. n l. "' t. I" a d ,':\ ,
elE acordo com o modelo EnfatIzado PElo Lstaelo b )" ,;\ S :i. 1 E ]. )" () ,
r' E.' f 1 E t i n d o a 5 c o n t )" a cI i ç: él e 5 ti E.' 5 U cl d U p 1 <:i ir) s (';:'1"1;;: i~ o no slst:E.'m<:i
produtivo E no Estado,
A t)" a j e t ó)" i c\ d o p r' o c E,' b 5 o d E P 1 a n e j a ll'I e n t: o cI é\ F lU P )" E S a
aprEsenta dados do comportamEnto organIzacional, Em tErmos de
adaptaçio E.' l.novaçio administrativa, bem como
para conquistar E assegurar autonomia gerencial E f :I. n ,;\ n c E I I" d. "
ao lado da consolidaçio da competência técnIca qUE tEm marcado
E': ~:; t I" ,',\ t É' 9 :i. c: () ,
o c! :L I" f::;;:: :i. o ri a m (? n t u da EmprEsa para um fluxo
o a priori tecnol6gico nEcess~rlo à prestaçio de
político, o
p 1 anej <:l,mEnt o '1 E:g i t: i ma '-SE' l"ac ion<:l, 1 :i,d<:l,de
t:É:cI"IJ.ca QUCi.n t D c: omo um recurso de poder, no c o n c ti. r ~:; D P () )"
amb:i.Ent,;\is, sin,':\, 1. izando <:l, convivÊ:nc ido com
dimens5es paradi91l'1áticas qUE cercam a lógica organizaclDnal
L H;TA DE F I GUF~A~:)
FIC!. j ... VIS~O ESTRUTURAL DO SISTEMA TELEBRAS 47
FIG. c~
....
EVOLUÇ~O DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PORC(llTGOFUAS GEr~Eh!CIAIS . . . . 70
FIG. ':l ....
~J CONJUNTO DE MISSOES DA EMBRATEL . . . .
FIG. 4 .... ETAPAS DO PLANEJAMENTO
FIG. C· .,J _. ESTRUTURA DOS AGENTES DE PLANEJAMENTO ... 97
FIC. ti _. FLUXOGRAMA GERAL DO PROCESSO DE
PLANEJA-11EI-..ITO . . . . 99
rICo
,., ./ .... ESTRUTURA DE PRODUÇ~O I::. FSTt:;:UTUF\I~ DEAPROPRIAÇ~O ... .
FIe;. c···· :í.0t
FIO. 9 .... E~)Tr';:UTlm{.\ ~lN?\L.ITIC:(.:i DE. DIF..:ETIUZU:1 . . . 102
F I G. 1.0 .... I~F(fI CUL.AC~() fim; COI-..lCE I Tm; . . . l.03
FIG. U ... [STF\l.JTUF~I~ DO DOCU1··'1EI'H0 "DH~ETFn:z.L~:; J
OBJETIVOS E METAS" ... o o ... o .. o . . 104
F I G. 1. í? ... ESTF~I.JTI .. mtl DO PL.AI-..IO DE AÇ~O . o ... o . . . 1. W5
FIG. 13 - ESTRUTURA DO PL.ANO DE TRABAL.HO . . . 106
FIG. 14 - SISTEMA DE CONTROLE ... .
1- I .. o.l:.o. ~ 15 - ESTRUTURA DOS AGENTES DE CONTROLE
FIG. 16 - ESTRUTURA ANAL.ITICA DE POL.ITICAS F
t09
OBJETIVOS - EAPO .. o .. o .. o .... o o . o . . . . 111
FIG. 17 - ESTRUTURA ANALITICA DE PROGRAMAS - E.APR ... 1.1.2
FIG. 18 - COMPATIBIL.IZAC~() . . . o ... o ... . t21
FIG. 19 - ESTRUTURAS ANAL.ITICAS DE POLITICAS E
OBJETIVOS - EAPO ... o o o o .... o . o .. _ . . . 122 FIG. 20 - FLUXOGRAMA DO PROCESSO ... o ... _ o . . . . ... . 127
FIGo 21 - DIMENSOES DA RACIONALIDADE ... o ... _ .... o 126 F I G. í~2 -- HATR I Z EI~PO/EAPF~ o .. _ ... o o ... o . . . 12El
~]
F IGUF..:A~;
FIG. 23 - FLUXO DE INFORMAÇOES
FIU. P4 [VOLUÇ~O DO PLANEJAMENTO DA EMBRATEL t 31.
FIG. 26 .... AI'MLISE DOS NEGÚClm; . . . 1:]4
GLOSsARIO
APC - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇ~O APO - ADMINISTRAÇ~O POR OBJETIVOS
EAPO - ES'rRUTURA ANALITICA DE POLITICAS E OBJETIVOS EAPR - ESTRUTURA ANALITICA DE PROGRAMAS
FNT - FUNDO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES RECON - REUNIOES DE CONTROLE
REPLAN - REUNIOES DE PLANEJAMENTO
l.NI:IJCE
ll~ T H O DU
ç
r; O .C (i r'l TU L O ~:;
I. ESTADO: O EMPRESARIO E A EMPRESA.
1.1. O Estado Empresário
12. A EmprEsa Estatal
11. DIHENS~O ESTATAL NA AREA DE TELECOHUNICAÇMES .. 38
111. RACIONALIDADE EMPRESARIAL NO PROSESSO 1:1 [
PLANEJAMENTO 58
IV. METODOLOGIA . . . .
4.1. DElimitaç~o do Estudo
4.2. Natureza E ObjEtivos do Estudo
4.3. Formulaç5o do ProblEma
4 . A. li ('-~
+
J n ]. ç: ;-:-; D d u ~::. T (.:~ r IH U .,; ..\) D C (:I~:;Ci L!(:, E 1"iF' F: [;:i(i Bh:t!L; I L [: I r~:(! DL TLL.LCOI'iUI··! 1 C(iç::Dt:::: ..
7].
'''Y i
/ ].
'7····;.
l o , . )
"')I":
.... ' .. ';
S/A - LMBRATEL 80
5.1. Infurmaç50 GEral da Emprssa
5.2. O PrOCESSO dE PlanEjamEnto da EMBRATEL
5.3. TEoria x Fatos.
CONCLUSOES . . . .
("\/. () .1.
lNI:IICE
BIBLIOGRAFIA SUPL.CMENTAR
(..,1'-1 [ X () 'I ... !:; I ~:; T [: 11 (.1
"'!
r.,
C I () 1-1 (..1 L fi F' T F I... [: C () 11 UNI C t1ç
ti [: f:; .... F f:) T r~ U ...TURA EMPRESARIAL .
INTRODUÇAO
A p~esente monog~afia comp~eende duas catego~ias
de an'1 ise e a metodologia de abordagem de uma organizaçio,
~om o objetivo de ap~EendE~ o paradigma da racionalidade
empresarial, atravis do processo de planejamento da Empresa
Brasileira de Telecomunicaç5es S/A - EMBRATEL.
NEste sentido, o t~abalho reuniu na p~imeira
categoria de an~lise, o tema do Estado empres~rio e da empresa
e~tatal, p~ocurando avançar no entendimento do que significa a
prEsença marcante do Estado no domfnio econ6mico, perfazendo
uma t~ilha em qUE SE inicia com um corte histórico
~stabelecido a parti~ de 1930 e at~avessa uma t~ajet6ria at~
os dias atuais. A motivaçio bisica da intervenç50 estatal ~
~studa~a, bem como sua filosofia básica de atuaçio, passando
por uma visio crrtica e reflexiva que remete o anal ista ao
problema do expansionismo estatal e as est~at~gias adotadas
pelo Estado atrav~s do seu braço produt ivo, a empresa estatal.
o
tema da empresa estatal se re~ne ~ questio doEstado emp~es'rio por meio de determinadas vinculaç6es, que
vffo sendo descobertas na medida em que esta se ocupa em
responder por sua missio enquanto unidade econ6mica e por sua
funçio de executora de objetivos polrt icos, com uma dimensio
p~bl ica e privada, que propicia ao analista perceber
~0nt~adiç5es ~esultantes do comportamento oscilante nascido de
seu est~eito relacionamento com o seto~ privado e com o
próprio seto~ gove~namental. O referencial teórico ut ilizado
tamb~m faz mençio ~ uma pretensa racionalidade empresarial
prevalecente na administraçio da empresa estatal, contraposta
3
.1
J
II
i
I
. I
I
I
~ t~adicional ~acional Idade bu~oc~~t Ica qUE passou a conviVEr
. I
~~m o Estado tEc~ocritico E moderno, notadamentE na etapa
pcis-64. O Carrtulo I desta monografia examina essa tem~t iea,
~oncentranrlo sua anil ise no fen6meno da adoçio de p~~t Icas
empresariais no imbito do Estado brasileiro, aI icerçado no
movimento de empresarializaçio dEcorrEnte de opções
Institucionais feitas pelo Pars.
A fixaçio do pEr rodo pós-64 como um sEgundo cortE
hist6~ico, ab~E o lequE dE altErnat ivas nEcEss~rias ao
tratamento te6rico da dimensâo estatal no SEtor de
telecomunicaç6es, posto que nesse interregno é que surge o
embriio de uma rede empresarial de telecomunicações 1 ideFada
pplo Estado, configurando um caso dE intEFvençâo dirEta na
E~onomia, especificamente no ramo de p~estaçio de serviços,
numa irEa Est~atégica E promissora.
A
investigaçio emp~eendida fornECE os elementos~onsiderados bisicos para justificar a infase no seto~ de
telecomunicaç6es, dada a predominincia da chamada visão
te~nocrit ica nEsta 'rea de intervençio do Estado. Assim sendo,
o Caprtulo 11 mostra como os membros da aI iança
militar-tecn~crit ica conseguiram Estruturar o setor de
telecomunicaç6es, sob o argumento b~sico da nascente ideologia
rla segurança nacional e vieram a criar empresas do porte da
EMBRATEL. Neste part icular, a monografia deve sua
concretização ~ Escolha desta Empresa, repreSEntativa do
discurso t~cnico-ciEntrfico levado a efeito pElos tecnocratas
e marcada pelo signo da eficiincia operacional, podendo SEr
considerada uma das forças-mot~lzES da modernizaçio do Estado
As p~oposl~6es de an~lise administrativa e dE
out~os ~equisitos conside~ados fundamentais pa~a a ap~eciaçio
d3 lógica organizacional, part icularmentE em se tratando do
tEma da ~acional idade empresarial, constituem o objeto do
Cap(tulo 111. Aqui, vale ressaltar qUE esse capítulo toca num
tema polimico e atraente para os estudiosos da administração,
tn~duz i do e~<pectat: ivas que a d i men~:;.âo
paradigmitica Existente na conCEpção de racional idade, devido
indícios da falência do modele) cl~ssico ,"ac ional ista,
vencido pelo reconhecimento dos limites da racionalidade pura
e pela penetração da perspect Iva ambiental. Além dessa id~ia,
~ouhe reunir ao quadro que se desenha através dessa abordagem,
---~ temát ica do processo dE planejamento. Tal reuni~o i mp"1 i c: OIJ
numa abordagem que privilegia a questão da racionalidade I
tornando-a a seguir, coadjuvante da temit ica do
processo de planejamento. Dessa forma, utiliza-se a premissa
de que uma ação empresarial para ser tio racional quanto
o uso do processo de planejamento,
~on5iderado um elemento estruturante daquilo que vem
util ização adequada e eficiente dos meios para at ingir os fins
Coerentemente, a idéia da mudança paradigm~t ica na
concepçio de racional idade permite enfocar a evolução do
p 1 ane.j ament o, desde a era do planejamento clissico até o
planejamento e admini5traç~o estratégica. O pano dE fundo
deSSE capítulo, entretanto, est~ voltado para a busca de
argumentos capazes de auxiliar na elaboraçio dE respostas para
o como delimitar a racionalidade empresarial, através do
processo de planejamento de uma empresa estatal. Assunto que,
m~todol09icamente, i abo~dado no cap(tulo seguinte.
o
CarrtuloIV
trata da metodologia que foiutilizada. Em ve~dade, o que se pretendeu foi
corldiç()f:~L
P I~ 0\:)1 (·~ma ,
necess~~ias pela fcwmu"l adío do
tanto em termos teóricos como em teFmos empíricos.
Ne<;t e sent i do, o Capftulo
IV
exp6e quais foram os recursosmetodológicos ut ilizados: pesquisa bibl iogrifica, pesquisa por
(·-;-nt: I~ev i ,:;.t a nio estrutuFada - e anilise documental. todos
direcionados para atender aos objetivos do estudo. O mitodo do
Estudo de Caso é Just ificado por sua importância na pesquisa
~m administraç~o E por sua capacidade dE explorar nuances dos
processos empresariais, de acordo com unidades temát icas
(.::.;d: el"l''; i va '; d (.:. uma t: eOI' i <~., o f"<.::-Ir ~~c en d (j o~~ c on t Olr n ()~::. ':l.d ~:. Cjl.l:::l.d O~"; E
desejados pelo PEsquisador.
Como Já foi referenciado, a pesquisa empírica foi
rEalizada na EMBRATEL, aparecendo no caso, como f i gura
c: ent I'" a I , o processo de planejamento adotado pela Empresa,
SEUS aspectos rlescritivos e normativos, constituindo o assunto
do Capítu"Jo (). O intuito da escolha do de
planejamEnto foi apreender ou revelar a "racionalidade" que
estaria orientando tanto o pensamento como a açio real izada
pela Empresa. A análise dos dados do Estudo de Caso propiciou
o encontro da teoria com os fatos, ensejando a construçâo das
conclus5es requeridas quanto ~ fixaçio de limites da dinâmica
empresarial - da EMBRATEL - sobretudo porque os aspectos do
problema puderam ser pesquisados em cada um de seus elementos,
sem contudo perder sua unidade.
As conclus5es da monografia sugerem que i possível
prOCESSO dE planejamento de uma emprEsa Estatal. Afir'mat iva
uma
d(,,,:t E:I~ m i 1'1 ':l.d ,:I. <1 EMI3I~ ~llEL • f i C ê!\,
p r)l" t 'il.n to, restrita a esta obsE:rvaçio, tEndo Em vista qUE,
re~postas irlE:nt ificadas no imbito do Estudo dE Caso SE prEndem
~nica E exclusivamentE a situaçio-problema qUE foi pesquisada.
qU(~ o caso d,l
fMBRATEL constituiu-SE numa ExpEriincia rica Em dEtalhes sobrE
a ascendincla tecnocr't ica sobre a pr'tica de planejamento
numa determinada empresa, com todas as consequ&ncias qUE um
~sturlo desse g&nEro permite abordar.RElaçôEs EntrE unidades
orRanizacionais direta e indiretamente envolvidas;
i nt EI"n<:(; capacidade da empresa em at ingir
patamares de inovaçio E adaptaçio ao ambientei e, dados sobre
a comportamento organizacional, sugestivos de temas para novos
E~st udos.
Como del imitar o paradigma da I~ac: i ona I i d<:HII=~
empresarial, atravis do processo de planejamento da EMBRAlEL,
tr.;-v~:: como Irf:;!:;!lo,::;ta O!; contolrno~; Plr(,::d itos n,l ;::l.\)Olr(j,;l.qE'm solJlre .':1.
I" <:( ci o n <:( '1 i d ,!\CI E t é c: n i c: c,, d c( d ,,, a 51.1 ," P ,~ E <:1 () In i n ~\ n c: i
<"
n c\ p r á t i c a doprocesso de planejamento adotado pela Empresa, cujo teste de
vaI idadE: POdE ser comprovado tanto no aspEcto empfrico como no
teórico EmprEgado. Porém, Esta é apenas uma das
nuances da resposta. Recomenda-se ao leitor conferir como esta
autora ChEgOU ~s conclusSes que aprEsenta nEsta monografia.
J -
ESTADO: O EMPRESARIO E A EMPRESA
-I
!
!
!
\.\. O Estado Empresário
A emergincia do Estado empres~rio numa sociedade
constitui o ponto de partida para se
Entender sua natureza e para se ter uma compreensio
rio problema. O ano de 1930 é o marco histórico que deI imita a
abordagem teórica a ser feita, significando que se tem em
perspectiva mais de meio século de história brasilEira, cuja
traJet6ria sinal iza para o profundo processo de transformaçio
~P9istrarla no perfodo. Trata-SE da passagem de uma sociedade
rio t ipa agrário-exportador, com um modo olig~rquico dE
dominaçio, para uma sociedadE do tipo industrial E urbano, qUE
guarda resqu[cios do tradicional Em interaçio com o moderno.
Nesse per(odo cronológico, se marca a vigincia
i nt EI"venc i on i smD ,ou d i r i 9 i !51lW do Est ado
sobretudo o econ8mico. ESSE intervalo de tempo, da mesma
forma, permite que se perceba o surgimento de um grupo de
técnicos atuantes na Estrutura governamEntal
macrocoordenaçio Econ6mica de planos elaborados E.'
Executados em diferentes graus da esfera p~bl ica vigente no
Brasil e pela adoçio dE normas racionais de gestio nas
empresas estatais.
Por~m, foi o cen~rio internacional aquele que mais
repercutiu sobre a configuraçio assumida pelo Estado nos i dos
de 1930. A depressio econ8mlca mundial ocorrida em fins de
\929 encontrou a economia nacional em crise e impulsionou a
novo esquema de poder, com a ascensio de Get~lio Vargas ~ Pre~ldincia da Rep~blica (apcis a deposi,io de Washington Lurs)
E a implantaçio do capital ismo industrial no Brasil,
De fato, a revoluçio polít ica ocorrida em 1930
provocou face ~ decadênc i e:"\ dos gr-1JpOS
01 iqár-quicOS como fator- de poder e a ascensio de novas classes
sociais (burguesia indu~trial e proletariado), sem que,
E:ntr'etanto, tenha ocorrido uma tr-ansformaçio concreta na
estrutura polrtica,
A
história registra que o Estado foi ogrande responsável pela reorientaçio econômica vivida pelo
sob o signo do chamado Estado de Compromisso, aI iança
tácita estabelecida entre o poder inf.~t itu íelo, o ,,' ,:> gF IJPOS
tradicionais da oligarquia e as classes sociais em ascensio,
conforme situa Weffort (1980).
A revoluçio polrtica ocorrida em 1930 marca, tambim,
fim rla era 1 iberal separando a primeira e S(~gl,lnda
Fep~blicas, A part ir delas, o Estado brasileiro projetar-se-á
por meio da intervençio sistemática, a dist inguir-se daquelas
intervenções dispersas que em pouco tempo daria lugar ao novo
padrio de atuaçio,
(1)
mel i s ident ificado com os postu'lados
1. Na d~cada de 30, o economista americano John Ma~nard Ke~nes
lançou uma doutrina que propunha a intervençio do Estado na
economia. Do ponto de vista teórico, os postulados
ke~nsianos reprEsentaram o "golpe de misericórdia' para a
teoria que sustentava o livre jOgO do mercado ou
laissez-faire. O ke~nesianismo tambim representou uma resposta ~
crise capital ista mundial do começo do siculo, dE tal
ordem, que ao liberali~mo sucedeu-se a presença do Estado
na direçio e controle da economia capital ista e o
fortalecimento da hipótese dE que nio hi equilrbrio
espontâneo e invisfvel no mercado ou o que se chama 1 iVFe
funcionamento do mercado, tido como uma miragem.
Cr~dita-se ~ forma liberal o espc)ntaneísmo do
P I' De esso industrial pré-existente a 1930; o Estado era tido
c ()mo ••• omisso em facE da ind~stria: suas relaç8es com o
j930,
sobretudo após o advento do Estado novo, é que o governo passa
a colabol'al' mais diretamente com o cr~scimento industr ial"
(L.amE.', j, (17f:l : 47) •
En t Ir ~;t an to, pode-se argumentar que o liberalismo
~omo prát ica econSmica tinha mais um significado abstrato,
dado qUE uma das contradiç6es do sistema seria, justamente, o
"€spírito do livre comircio , que já no auge do surgimento da
inglesa, como refere Polan~i (:\.900:14;;'»,
'::;O-tlr ia ()~:' E'f("ito~; do pl·-()t~::c ion i~:;m() PI'-":l.t i c ,':\do pelo':;' indl,lstlr i<·~,i':.
na exportaçio de fios, peças de máquinas, modelos e utensílios
aFins, reportando que ·a ind~stria só queria libertar-se da
regulamentaçio na esfera da produçio, pois a 1 iberdade na
psfera da troca ainda era considerada perigosa", assim como
hoje norte-americanos e europeus o fazem, P Ir O t e 9 (:: n d o s e u 5
melr c a(1 ()~;
concorrentes mais sejam
brasileiros ou japoneses.
Em se tratando do caso brasileiro, a not c'\
predominante prende-se ao rato de que as raízes históricas da
presença do Estado na economia remontam aos prim6rdios do
reinado portuguis nas terras da colSnia, atraVEssam todo o
perfodo do Imp~rio e vio configurar-se no decorrer do século
XX, com a vig&ncia da Rep~blica, como um caso t rpico de
intervencionismo estatal, cuja trajetória coincide com a
Uma consciincia mais clara desse problema, po~tanto,
l~va ao entendimento de que o impulso i n d 1.1 S t I' i a 1 i z a n t e fZ'
racional ista nascido na era Vargas, ident Ifica uma redefiniçâo
rle funç8es no Estado brasileiro, porque ~ moderna versio
e~tatal conjugou-se ao movimento nacional ista que v i nh,l
tomando fo~ma no Pars. Fo~am as afi~maçSes de nacionalismo
polft ico reinteradas no perfodo qUE vai de 1930 a 1945, que
destaca~am a vulne~ável posiçio brasilei~a, como a de um Pafs
mero exportador de mat~rias-primas e encorajaram as medidas de
criaçio de infra-estrutura básica, transfer€ncia de renda do
tarifas alfandegárias e a formaçâo de uma complexa estrutura
(;2)
governamental, como acentua Octávio Ianni (1986).
A articulaçio entre a sociedade ag~ária tradicional
e a emergente burguesia industrial, assentada em uma nova
relaçio capitalista, forneceu os meios para qUE o Estado se
como representante dos
passando de simples mediador a instrumento da const ituiçio do
sistema industrial em implantaçio. A mençâo feita ao Estado de
Compromisso ressurge, aqui, para que seja incluido o tema dos
direitos sociais, representat ivo desse períOdO que fixa o
advento da legislaçio trabalhista imposta pelo Estado. Atrav~s
dela, o trabalhador receberá os direitos básicos: sa 1 á,' i o
mínimo, aposent adOlr i a, licenças,
le9 i sI adio
2.
E
este mesmo auto~ que chama a atençio pa~a o fato de queos movimentos nacionalistas tive~am que ser acomodados e
que muitas acomodaçSes fo~am resultado do frágil equilíbrio
de forças e do fen6meno da hegemonia política, mil itar e
cultural dos Estados Unidos, sobretudo após a 11 Guerra
Mun d i aI (I an n i, 1986: B;?) •
pn:'v i rlenc i <3.1" i a; conferidos PEla Consol idaçio das LEis do
de 1943. AI~m disso, 5ur9ir~, também, a
TI'<lbalho,
r; i nd i C<3.1 , ,1 S I' (.z-i 11 'v' i d i c aç ClE'S d o~:;.
trabalhadores e E'vitar a sua autonomia de classe. Através dos
~:; i 11 d i c atos, o Estado gerE'l1ciari os conflitos entre o capital
e- o tl'abalho.
o
reconhecimento da figura do proletariadoPErmitE qUE SE conceba a tEse de qUE sua pFEsença era
necessária no campo dE forças qUE lutavam para organizar a
a~umulaçio capital ista E compatibilizar as tEns5E's sociais.
E~ta foi uma fasE em que se verificaram significat ivos afluxos
dF!:> 1 oe: amE'n to!'.>
palrt iCI.llal'1lI0:nte d,":\s ,"iI"F,:tS 1'1..11",:1 i:, pal'"a .. "'15 c id,:=t.d€:s.
i'k' ';<i; E quadl'o dE Illl.HL-I.nças, "I bUI'"guE:.'!:; i .. "'I
do País,
~nmPFeende que a difeFenciaçio acentuada do sistema econ8mico,
social e polít ico imp5e a inteFvençio estatal e Esta pode ser
ori(-E"ntada em $(';:'1./. bC'::-l1efício, como SUgel'e Ianni (j.98t):101).
Incorporando tal alusio à anil ise, as
possibilidadES para
que admite o Estado como, antes de mais nada, um
i n 5 ti" IJ. m E.' n t o luta dE classes, cpJ.<:ll
consubstanciam os chamados ·pactos de dominaç5o·. Seu p'7I.pE:l
seria o de garante de alianças entre 05 grupos sociais que
re~nem as condiç8Es para ExerCEr a dominaçio sobrE os dEmais. Deste modo, o espaço político Em qUE o Estado intervencionista
se apresenta sugere a emerg&ncia da ~urguEsia industrial como
uma claSSE em ascensio E portadora dE um projEto de dominaçâo
que, embora nio explicitado formalmente, consegue que seus
aparelho estatal estruturado após 1930.
I~ e:v i de:nt~: que Essa suposi,io, ao E}·:P 1 OI' c"\l' o
c: a.I'::H el' dE' instrumental idade do Estado, c o n t I'· a d i t CI. a
~nncEpçâo democrática da igualdade dE classes. Esta concepç5o,
3li3da às duas caractErfst icas básicas do Estado modErno: (1)
soberania plena e (2) dlstlnçio entre Estado e sociedade civil
(Gruppi, 1987:9), forma a premissa de que o governo deve ser o
principal ou o ~nico promotor do bem-estar colt::t ivo e, de
cel't<3. maneil'a, in~;;inua que os pl'oblemas de fonnac;io do capital
(-~ da infra-estrutura básica rEclamam a aç50 do Estado. I)a
irléia democrát ica do contrato social ~ tend&ncia
Me expan~Jo do poder polft ico, do poder dE regulamentaçâo da
quiçá como o comiti execut ivo da burguesia,
vasta e ostensiva imbricac;io de valores de cada teoria, em que
se apÓiam os ideól090s do liberal ismo ou do marxismo. Sob tal
p3no rle fundo, todo um conjunto de circunstâncias servem para
favorecer esta ou aquela corrente de pensamento, que conforme
a direçâo dos ventos reforçam ou fazem a den~ncia generalizada
do Est,ldo"
Os 1 imites impostos neste capftulo, entretanto, nio
poderiam deixar de absorver a mensagem de José Gilherme
Mel' 'lU i OI' quando compara a teia dE relacionamentos que tocam
os conjuntos teóricos vigentes. Segundo Merquior (1993:128-9)
na perspectiva social-liberal, o
importante i seguir o sábio conselho de
Norberto Bobblo, e fazer com que o estado
moderno nio seja nenhum simples guarda de
trânsito, como querem os neoliberais, nem um
ge:-nel',ll, como pl'E'f(,:-I'em os dil'igist<:-l,~~ à
outrance. O guarda de trinsito se limitaria
volumoso do desenvolvimento econ6mico e
social ~ontempo~ineo a que o estado
democ:nitic:o nao podc.;~ ser indifel"ente. O
gene~al tentaria o~denar todas as aç6es da
sociedade a part ir de decisBes tomadas
exclusivamente por ele. No primei~o caso, a
sociedade engol iria o estado. No segundo, o
estado deglutiria a sociedade".
A conjuntura dE passagEm do Estado olig~rquico para
o I::.~:; t ad o intervencionista, expl ica e di margem pa~a
prevaleçam abordagens vinculadas ~ esta ou aquela teoria,
porém nao como negar o rumo empresarial tomado pelo Estado
b~3sileiro ao sabor das mudanças iniciadé."\!:', E~m As
evid&ncias empfricBs denotam a oPçJo brBsilei~a qUE atribue ao
Estado o papel ao mesmo tempo,
industrializaçJo tardia levada a efeito, lançadas as sementes
pa~a o surgimento da economia administrada. Alte~ado o papel
do Estado, p o d é~ .•. ~:; é~ I< (:~~~nes i an i <.:.mo ao
ne0-ke~nesianismo pa~a da~ supo~te teórico ~ açio fiscal e
monet~ria nascida com a intervEnçio estatal. ainda,
invoca~ o contexto histórico-estrutural em que se organizou Essa (jimensio empresarial do Estado, deI ineada no horizonte do
í. .lp i t: a 1 i ~:;m() d(·:;pendente, visto o de
desenvolvimento do Pafs sucedeu-se numa realidade afetada pela
concent~açio de poder, riqueza E modernizaçio dos pafses
desenvolvidos E sob o fascfnio qUE elES exercem sobre as
Estruturas s6cio-econ6micas dos pafses periféricos. Cé."\be
i nt egradío
d3 economia brasileira ao capitalismo internacional: po~ força
dessa lógica, o projeto de indust~ial izaçio quando afinal foi
partiu para a especializaçio como meio dE tEr
sob~ep8s ao sistema econ6mico vigente
incipiente out 1"0 gabe"r i to
ao
po~to de oitava economia do mundo, sob a ~gidE dE uma trfpl ice
privado nacional
intenlac ional.
o
curso histórico da an~lisE lEva ~ c~ença dE que~ertas condiç6es obJet ivas impulsionaram o Estado a assumir
~ua atual dimensio na cena econ6mica. Bael" ,
V i 1 1 e 1 ,1 ( i 97:3 : <706 ) i n f o Ir ma m q u (~ ••• com setores industrial fi:
·I~ i n a n c (=: i Ir O i 9 1.1 ,;\ "1 mE n t E fracos, a Esco"1ha em v~rias épocas,
crescimento: o capita"1 EstrangEiro E o Estado'. Recaindo sobrE
o Estado a ta~efa de a~ca~ com vultosos i n ves t i IIH.;-n t os
requeridos pela escala dos empreendimentos E a natureza de
relac ionado~; com
inrl~stria petroqufmica, siderurgia e serviços de ut ilidade
p~b"1 ica , entre outros, procura-se demonstrar a prevalgncia do
projeto nacionalista de industrializaç5o, cujo marco teórico
<:3 )
,.: p.n t Ir a·-s(·~ no j:woces',:;o de sub s t i tu i ç~~o CIE~ i mpcw t aç õel:; •
OC:;···; t :'1 f o/r m,). , assumindo a hegemonia do processo,
coube ao Estado a incumbgncia de exprimir as relações de
prorluç5o e as relações de dominaçio. Isto significa dizer que,
embora de infcio, o industrial ismo nio fosse uma orientação
3. ·0 processo de substituiçio de importações ~ o processo de
industrializaçio tfpico das economias subdesenvolvidas.
Baseia-se na demanda existente, c~iada pela abso~ção dos
valo~es e padr50 de consumo das economias desenvolvidas e
depende da açio gove~namental para controlar as importações
e estimular a p~oduç5o intE~na·. como escla~EcE Vilma
Figuei~edo (1978:23-4).
p~eponrlerantemente governamental, teve o Estado que tomar
algumas medidas favor~veis à ind~stria, em cOExistência com os
interesses ctos grupos econ8micos tradicionais.
r
Interessanten ot ,llr que esse contraponto se deu em concomitância com o
fortalecimento da organizaçio polít ica do Pars, que imp8s, à
~poca, consider~vel força i iniciat iva estatal. Fala-se aqui,
rlo padrio autorlt~rio vigente no Estado Novo, i mplregnado da
tenrl&ncia corporat ivista qUE assolou o ambientE i n s t i t IJ C i on a 1
brasileiro, eivado da centraIizaçio administrat iva.
Essas consideraçBes fazem crer que a assunçio de um
intervencionista seria flr 1.1 t () de
cont ing&ncia prat icamEntE inevit~vEl, mEsmo porque, cor. fCWI\\E
j ,i ~; E
+
E -:é" Ir E f E I" ê n c: i ,';( , C) In O d E 1 C) p 0"1 í t i c: Ci "1 i b (~'Ir a "1se incapaz de corresponder às eXigincias do desenvolvimento
indu~:;tlr ial e l difeFenciaçio estrutural dE~mandada pela
economia brasileira.
mane i 1'",":"(, c I alr i f i ca···!:.e da
determinaç~o do Estado em inicialmente, nc)s
~etores ria ind~stria de baSE, tendo em vista a viabil izaçffo do
sistema econ8mico em implantaçio. Nasceram deste modo, as
primeiras empresas estatais criadas com o intuito de serem os
instrumentos da açâo direta do Estado no domínio EconBmico,
dotadas de autonomia, flexibilictade orçamEnt~ria E
organizacionais melhor qual ificarlas para os encargos que lhes
(4 )
eram confiarios naquele momento histórico.
4. Um exemplo que se POdE invocar ~ a cria~io da Companhia
Sider~rgica Nacional, em 1941, empresa estatal const iturda
como socierlade an8nima, em decorrência do plano sider~~gico
H i ':) t OI' i c é1men te, enUio, foi i mplJt cHio ao
r~sponrler ao desafio de capitanear a modernizaçao da estrutura
P.(~ an ôm i c: a do País, v i ê!\ clE
()p CI' ac i on a I i :'-:'<~.I' funç6es produt ivas, qUE mais tardE, vil'iam
i mp I" i m i I' ao modelo econômico brasileiro, IJm g I" alJ dE
cnmpl(~>~id(~de e ~;ofisticaçao jamais imaginado, iniciando pela
tarp.fa de abasteci-la de bens E serviços bisicos.
Embol'a n ~i() quanto
11.1í. ional ista, hi que SE admit ir o traço marcante da
intcrpretaçao de Luciano Mart ins (1977:27), qUE sugere, no
caso bra~ilciro, a existincia dE uma mot ivaçao intervenionista
I:lJ!:-i ca. i clf:'o1 Dg i <.'\ i n t E: Ir V E n c: i O n i ~:> t "l
FI I" (·,·v,} 1 cc ~:n- q1.lan o:i O <':l. C on.j un t: 1.1.1' a ml.ld a (,2 en t I' a cm c cn a um 9 OVCI'-n o
c 1 ai" amert t I:~ ident ificado com a opçao internacionalista, cuja
eles
orientaçao recara na mobil izaçio de capitais onde
pudessem ser encontrados, aumentando a disponibilidade de que
'1 an ç ai' mtio em SE.'U
desenvolvimentista. Relacionado com a formalizaçao dE uma
12':;' t: I' IJ. t IJ.I' 3.
I( IJ bit s c h E~ I<
intc~~I'ada, o gOV(~I'no do
previa no SEU Programa dE MEtas,
P I' e~; i d en t ~::.
~ondiç6es nEcEss~rias para a expansao das economias dos
setore~ privados.
Fm vEI"dade, a iniase qUE legit imava o pape'1 do
E'".tada interveniente na economia foi encontrar amparo no
Pé~nSamf:'nt o c(:~pa"l i no, i dent i f i cada com E'ssa nwt i 'laça0 e com o instrumental do planejamento comprcensivo e centralizado. Mais
p cw ém , a CEPAL - Comissio Econ8mica para a América
tarde,
L.~lt i na reconheceria que cn:~sc i ment o
ql.1ant i t at i 'lO e a rnodernizaçio desigual das at ividades
~~tat~is, tenham avan~ado em ritmo mais r~pido do qUE os
vinculado'," •
N€ssa leitura, autores qUE Estudaram Este momEnto do
intervencionismo estatal ressaltaram em suas opinibes que
"este ~ o instante de maior expansio do setor empresarial
p~bl ico que registra a hist6ria econ6mica brasileira" como o
f3Z Saravia (1988:7), ou como Evans (1982:89-90), ao assinalar
que "a parcela estatal do invest imento de capital fixo bruto
aumentou de 25% no per iodo 1953-1956, para 37% Em 1957
e para 48%, em fins da década"" P DI" É'm,
I_uciano Cout inho (1977:28-33) quem demarca o cariter assumido
pelo processo de industrializaç50 , com Especial
nesse per rodo, como pode-se observar na seguinte citaçio:
·0 ciclo expansionista no per iodo 1956/63
representou um momento fundamental no
desenvolvimento do capitalismo no Pais,
caracterizado pela criaçio da base produt iva
de bens de capital circulante (através do
SPE)*, acompanhada de uma drist ica mudança
na estrutura produtiva do setor de bens de
consumo, concret izada pela introduçio de
blocos de bens duráveis (atravÉ's de emprEsas
internacionais) e, ademais, pelo lançamento
das bases do setor de bens de capital fixo·.
Uma recuperaçio histórica do papel do planejamento
como at ividarle bisica do aparelho estatal, entret,:tnto, está
Departamento Administrat ivo do
Serviço P~bl ico, em 1937, órgio que veio gerar os primeiros
(5)
dE P I al"rf:~ j amEn to !,10vE:I"namEnt a I no Pa í l:i E OS
t: I" ab a 1 h ()~; d (·z· mod ('':1' n i zaç~7ío adm i n i st I"Clt iva H~o b E:m PC)stos em
perspectiva por Beatriz Wahrl ich (1984:49-59) • A base te6rica
d~sse processo repousava na percepçio de que Era necess~l"io
industrial emergente, razio pela qual sobressaía-sE a Escolha
d~~'l ibel"<lda do CI' itélr io da Irac im, .. ",-l idadE inl:,tl"umE:ntal,
e modelo defendido pela elite modernizantE.' que aflorava em
meio ~s propostas de tecnificar as atividades-mEio do GOVErno.
r:on t 1.1<'10, é dE SE dEstacar qUE Em nada SE compara ~ Evoluçâo
verificada no aparato técnico E inst itucional do Estado, do
que o estágio qUE prospErou na faSE pós-64, t ido por alguns
autores como um bloco de poder no governo,
(6 )
Ir esul t .. ~n t e da
aliança mil itar-tEcnocl"~tica.
P e Ir E: i Ir a (1. <j> 81 : j. 2) é um d E.' 1 E S, qUE.' j u 1 9 a a
a importincia da tecno-Estrutura a part ir do dEsenvolvimento
das forças produtivas (via grandes organizaçSes empresariais
reguladas pelo Estado), cujo crescimento criou a necessidade
da macrocoordEnaçio econômica e as condiç8ES dE sua própria
snbrevivfncia. O conceito de tecno-estrutura está sendo
5. Com um grupo dE funcionários do DASP chega-se, no Brasil, ~
elaboraç~o dos tris primEiros planos de invest imEntos: o
Plano Quinquenal de Obras E.' RE.'aparE.'lhamE.'nto da DefE.'sa
Nacional (1942), o Plano dE.' Obras (1943) E o Plano SALTE
<i 946,-i 950 ) • I::. ~3. t E li 1t i mo, f o i de 1 o n 9 E.' , o m a i 1:,
significativo dessE.'s esforços, por rEprEsentaI" uma listagem
de despesas governamentais em quatro campos: sa~dE,
alimE.'ntaçió, transporte€ energia.
6. Apoiado na doutrina da segurança nacional, o cen~rio que
permit iu a sedimentaçio dessa aliança fornece o argumento
Me que a vocaçio autorit~~ia pré-eXistente encontrou-sE.' com
a tecnocracia. Resultado: presença mil itar nos principais
pmpregado no sentido admitido por ( 196B: B;;'~)
~special izarln~ e que part icipam do grupo responsivEl
da análise a determinaçio de que a tecnocracia constituiu E
~onstitue parte Integrante da estrutura de processo decisório,
I ,11" g ,':\Il)(,:-n t e finca,'a
i nrJ i ~;p(~·n~:d.v(':'1 ao funcionamento da máquina econômica,
te~nológica e administrat iva do Estado.
Favorecido pela tecno-estrutura o poder público
patrocinou os planos nacionais de desenvolvimento, numa
em que os novos encargos do Fstado requeriam verdadeiros
bnlsôes de eficiência, capazes de lhes assegurar as condiçSes
técnicas e operacionais desejadas.
o
desfecho rlo esforço da implantaçio dos grandesinrJustriais part iculares e principalmente estatais,
também reproduziu-se no fenômeno ·desenvolvimento econômico x
crescimento do setor püblico·, para o qual pode-se apl iear a
nota explicativa produzida por Burkhead e MineI" (1971 : 4····5)
<"lu.:\ndo <:tfit'mam: ••• os governos de pa(ses em desenvolvimento
responsabilidades com
desenvolvimento econômico e social, e, consequentemente,
v~&m face ~ necessidade de um arcabouço estrutural que
n ,1 t UI' a.l mE:n t: (~. impõe um ônus considerável sobre os gastos do
governo· •
que esse aspecto encaixa 05
colhidos por Fernando Rezende (1980:46-7); senio vejamos,
·entre 1947 e 1969, o coeficiente de gastos
novas unidades estatais adquiriu impulso nos
anos 50 ~ aumentou substancialmente a partir
d a d É-c a d ,\\ d f:~ 60. E: n t n:~' j 950 € j. <» 5 9 I f o I" c\ m
criadas 15 novas empresas federais e 49
estaduais, Entre 1969 e 1969, ESSE n~mero
to i aumf;:n t ad o p alr
.3. 39 ~:: 175,
respect ivamcnte. Finalmente, entrE 1970 e
1976, teriam sido criadas mais de 70 novas
empresas federais E mais de 60 Estaduais',
A propósito deste argumento i que se indaga acerca
rio Esquema de organizaçio da produç50 p~blica,
i mE·d i at:o, SE pensar sobre o modo de expansio empresarial cio
Estado, orientado para o crescimento e diverslficaçio de uma
gama de setores sofist icados e uma configuraçio marcada pela
concentraçâo dE capital t (pica de
avançados do modo dE produçâo capital ista. A este respeito,
Sérgio AbranchEs (1980:21) situa qUE a evoluçâo das empresas
estatais no Brasil mostra que estas se diferenciam quanto ~
natureza de sua produçio, quanto ao grau de concentraç50
i ndu~:;tlr i aI dos setores em que atuam e quanto ~ forma e
a natureza de suas articulaç5es com a ind~stria·.
Esse modo de expansio também reflete a opçâo pela
um modElo
orientado para uma Economia associat iva de mErcado, baSEado na
$nfaSE às Exportaç6Es e importaçio dE capitais Externos como
~lEmnto de transfer&ncia dE poupança e tecnologia. A variante
idfZ'ológic,\\ propostC\ tinha pcw baSE o fOlrtall=~cimento da chamada
emprE~a nacional", formada pelos conglomerados
econ8mico-f i nance i Ir 0'3. do c ap i t: <:l.1 Plr i vado n<~c i ona 1 (.;:
i nt en-.ac i ona 1 , t ido como o trip~ que sustentaria o padrio
rliferenciarlo presente no novo discurso desenvo1vimentista,
nascirlo com uma rlas maio~es c~ises vividas pelo Pais - leia-SE
n co13pso do pepu} ismo e a deposi~5o do Presidente Goulart em
Um esfo~~o de sfntese da abo~dagem da
mnmentos bisicos: a) o lançamento de suas bases nos anos 30;
I:J ) impulso para expansio nos anos 50; E c) a aut o'·'
~J. f i Ir II"!,~ ~ ~;; O afin.":\l CPH:~ fo i con!:; i derado 11m
movimento Me emp~esarializaçio do Estado nos anos 60 e 70.
E ~;;. S E' li"! () v i me n t o f o i i n t Ir e (j u z i d o E' In ~; i muI t â n E () c: o m um
Ina~co polft ico-jurfdic:o que exe~CEU um paPEl de diviso~ dE
E qUE Abranc:hes (1985:58-60) julga respons!vel
I::, <:; t: ::~. d o
buroc:~ático. Esta ~ uma referência expl icita ao Decreto-Lei nQ
~~00 , de 25.02.67 e demais leis complementa~es,
dist inguir
lnrlireta, posssibilitou ~ Uniio instala~ verdadeiros complexos
institucionai~, com estrutura e procedimentos que p~opiciaram
1.1 m l:; i s tem.";\ de centra1 i zadio dt;,'c i SÓI" i a qu,";\nt o as ,
pnlit icas e programas de açffo governamEntal, juntamente com a
cnncent:raçio de recursos, aumentando a capacidade extrat iva do
Estado. Sendo que, part icularmente, esse esquema orgânico veio
f3vorecer em muito a at iva expansio do Estado, notamente no
descentralizaçio que operou o movimento
empresarializaçio a qUE se fez mençâo.
Pais está formada pelas unidades designadas como Administraçâo
est~utura administrat iva da Presid~ncia da Rep~blica e dos
Min i <;tcü' ic)s, pelo conjunto de OIJ f.:nt i d,:\de:
dES i nna.dos como Ind i I~f.:·t <''1
( d E: ~~ C C n t I' a. '1 i z a. d <~ ) ,
p~blicas e sociedades de economia mista.
A confinu~açio empresa~ial que ab~ange as empresas
p~bl icas e as sociedades de economia mista recebeu uma
delimita.~io especifica cont ida no Dec~eto-Lei ng 200/67, que
3ssinala. no A~t. 27, Pa~á9rafo Unico, o seguinte: • Assegul~ ar .-.
s~-á ~s emp~esas p~blicas e ~s sociedades de economia mista
fUI"! c: i OIH\mE:n to i df'nt i co á!:', cio s<:-:t OI"
a essas cnt idades, m i n i t,; t € I" i ,:,'1 '1 ,
:.·,\,jIJ,<;t,ll'····SC :,';1.0 pl::~.n() ~.~C:lral do :]o\;,cl·-no".
At~avés dessa re9ulamenta~~o, passava a associa~-se
ao capital estatal e ao objeto social das emp~esas do seto~
produtivo do Estado, um toque especffico que assegurava a
int~oduç~o de pr~ticas empresariais. Em outras palavras,
pretendia-se t~ansplanta~ para o setor p~blico 05 padr6es de
pficiência perseguido pelas organizaç6es privadas. Produziu-SE
no âmbito estatal um verdadeiro paradigma: a I" E'un i ~ío de
princ(pios de planejamento, organizaçio, ger~ncia e controle
de ~esultados apl icáveis às empresas privadas, com o intuito
de colocá-los ~ disposiçio das empresas estatais, a fim de que
~las pudessem enf~enta~ os desafios da o~dem competitiva do
Ora, sendo as empresas estatais parte integrante da
1':"~tl~utul"a os motivos pnH i cos
filosóficos que numa empresa privada seriam amplamente aceitos
~i9nificam que~e~ conciliar o inconciliável: a mesclagem de
negócios com pol rtica. O que VEm a ser um dilema que persegue
3 temit ica do Estado e de suas emprEsas, levando Abranches
(\980:10) a denominá'-lo de 'comportamento oscilante entre sua
fa~e e~tatal e sua face empresarial".
Do ponto de vista do Estado empres~rio, a estrat~gia
uma caracterrst ica t (pica de at E:nd i ment o eIS ,
cnnveni&ncias do setor privado da economia ou acomodaç6Es de
val~ i ;lVE i s de natureza econ6mica em favor da política
9 nvel~ n amE·n t: a I em v i ~.l Ol~ • Semelhante estrat~gia de atuaçio
induziria Wilson Suzigan ( i <r7 6 : i ;28,,-9 ) .1 qU<11 i f i c al~
maneira a part icipaçâo do Estado na economia:
"Enquanto empresário suprE insumos E
serviços b'sicos ~ economia, gerando
importantes economias internas que
beneficiam principalmente o setor privado.
Enquanto agente financeiro, supre recursos
ao setor privado nas faixas de crédito em
que o sistema financeiro nio tem condiç6es
de suprir adequadamente, especialmente
rEcursos de longo prazo para o capital de
invest imento. Finalmente, enquanto fonte de
demanda de bEns de capital de produçâo
interna representa um importante elemento
auton6mo que pode ser manipulado pela
polit ica econ6mica, dE forma a est imular o
crescimento do setor, em sua maior parte
(96,3% do faturamento das empresas
selecionadas no ano de 1974) sob controle do setor privado (nacional e estrangeiro)'.
De forma que toda e qualquer anál ise,
depender da relaçio orginica que existe entre o Estado e o
~apital, conduzindo ~ constataçffo de que nio se pode conceber
a acumulaçio de capital sem o Estado - tal é a força de sua
prEsença - cuja pr~xis torna-se objet iva por meio das emprEsas
que toca de perto a forma privada de
ar: uIYIlJ,l aç ;:,{o, mas relativa a um processo empresarial
P(:::,} n E<;t: ado, i n t c Ir V (,Z' n ç ;;1 n n O domínio
f::'(~ on ôm i c D •
o
problema é que os anos 80 testemunham a sobrevida~essa estratégia, vivenciando uma crise gerencial, a ntvel do
E';ta,do, enraizada numa crise maior, f i n an c e i Ir <~,
decorrente do agravamento do déficit p~blico. O mito do Estado
provedor de recursos para o setor privado permanece apesar de
tudo, considerando-se a afirmat iva de Marcel ino (1988:1130) de
qUE no perfodo que vai de 1976 a 1985 . as transferincias
rle recursos para os setores privados da economia
ordem de 153 bilh6es de d6lares - maiores do
externa" e que, tal fato representa ·uma das causas principais
do déficit p~blico·.
Por outro lado, prat icamente no mesmo período,
do gOVf!"lrnO política ele
Revista Conjuntura Econômica (1988:116), que ao anal isar as
mil sociedades por açôes do País revela que no segmento das
~mpres~s de capital p~bl ico, é visfvel a maior
Ir cc Ulr <;0 ~~ de cw i gem n <~, compo~:. i ç~ío
i nV('2~;}t i ml:!"n t os, i nd i cando sei' esse um segmento bastante·!"
descapitalizado e diretamente dependente de financiamento com
(7 )
recursos de terceirosi e (2) Wel"neck (1(185::]) que aponta o
7. Muitas empresas estatais, por conta de Sua lucratividade e
rentabilidade têm conseguido recorrer a mercados de
capitais estrangeiros, para fins de financiamento,
reduzindo de modo geral, a dependênCia financeira em
relaçio ao Governo.
.., I:'
fato ~e que as t~ansfe~incias de ~ECU~SOS do Tesouro ~s
emp~esa~ fo~am 5eve~amente co~tada~, o acesso ao c~édito
~e~cearlo e os p~eços E ta~ifas ~eaju5tado5 f~equEntEmEnte dE
fo~ma pouco realista""
De qualque~ modo, a análisE das causas da crise do
E~tario emp~esário, tem corno condi,io prévia o reconhecimento
rlE que ele no~ ~lt imos 30 anos OCUPOU-SE, com grandE parte de
at ivirlarles p~odutivas Em sEto~e5 de baixa ~entabilidade
(infra-estrutura), de alta intensidade de capital (sideru~gia
rle p~orlut05 planos), ou rle áreas consideradas estratigicas
(petróleo, minEraçJo), como lembra Albuque~quE (1976:5).
Inclusive a respeito, vale mencionar que semelhante
infer&ncia POdE SEr fEita a part ir dos dados colhidos por
Melho~es Maio~es/Exame (1988:79>, qUE destaca na
clas~ifica,io das maiores empresas por patrim8nio do Pars,
narla menos que 17, entre as emp~esas selecionadas por este
critério, sio companhias estatais, o que vem a SEr um
rlemonst~ativo ria p~esença governamental nas ~~eas básicas da
economia, altamente exigentes de capitais, detendo o Estarla
quaSE 50% do pat~im6nio lfquido empresarial. EntrEtanto, f~isa
a ~eferirla pubI icaç~o, o quadro das Estatais é negro: 'apenas
(:inco empresas fica~am entre as 20 de maior prejufzo.
I',' A t '
~~(a:als de se~viços p~blicos E siderurgia sio maioria
a~ companhias que Ent~a~am no ve~melho·. Isto tudo, a despeito
de terem sido as qUE mais crEsceram no ano anterior, só que
em compensaçio, tiveram a pior rentabil idadE, a mEnor
liquiriez e o maior endividamento" (Melhores e Maiores,
o
significado de~$as evid&ncias empfricas sugere quea efici&ncia do sistema produt Ivo estatal
encontra-~e compromet ida pelo desequilfbrio qUE acompanha os dispindios do Estado"
Ainda que nio se tenha por objetivo aprofundar OC' ,~
E~tudo~ acerca tia causa material" para explicar a atual
situaçio com que SE depara a dimensio empresarial do Estado,
t ido como intervencionista e praticamente no
domlnio econômico, 05 indfcios desviam o ponto de vista que
tenta localizá-la na "hipertrofia" estatal" O mal nao é o
mas as formas com que dele se apropriam,
i n t u i n d o '-' ::, E: , como o faz Motta (j,988b:1) CI'.lE: no
a exemplo do ~stado Latino
burocracia p~bl ica veio sendo desenvolvida como um instrumento
para atender aos interesses e ~s necessidades polfticas de
~lasses e grupos polft icos preferenciais""
A questJo do Estado empres~rio, portanto, como um
integraçio capital ista, est~ condicionado pelo
proces~o contInuo de privatizaçâo estatal, cujo panorama foi
que ~itua a lógica contraditória do modelo de desenvolvimento
1:l1'- :::\ ':.~ i I í:': i ,,-o : o PaIs cresceu mas nio se desí:':nvolveu,
e~onomia altamente diversificada, com at ividades de grande
~>ofist icaç:~io; porém, a base econBmica que o sustenta nio tem
\\ COlrn~~;pond ioo ao ()b,jet ivo de eleValr I Ire.ll ist icamentc~1 o padl"~ío
Ao excluir grande parcela da
populaçâo brasileira do prOCESSO econômico formal
soe i edad(~ <lnsE i::~,
detrimento de grupos espec(ficos, o Estado p6e Em risco sua
IEflit imidade ou o leltmotlv de atender o interesse p~blico, E
~ sob ESSE prisma qUE o tEma VEm sendo discut ido na
1.2. A EmprEsa Estatal
Neste t6pico a açio empresarial do Estado rEcebEr~
um enfoquE qUE visa qualificar o modus operandl
Estatal, contraditado pela ambiguidade que a cerca e que torna
c:I i f í c i °I sua conceituaçSo, dEVido ao Estreito relacionamento
que ela mantém com o setor privado da Economia e com o próprio
03 )
~Etor governamental.
o
modo dE analisar estE problema, f i c a mel h () \'0definido se colocado na perspectiva hlst6rlca relacionada com
a introdução nas empresas estatais de pr~ticas decorrentes da
aplicaçio de critirios tipicamente empresariais, surgidos com
os imperativos de modernizaçio, desburocrat izaçâo, ,,~ficiência
E eficácia no aparelho produt ivo do Estado.
As implicaçõEs dEssa catEgoria de análise sâo
mu.itao::;, mas a principal delas é o papel como
facilitadoras do rumo a ser tomado na fundamentaçâo da
abordagem da empresa estatal, numa linha de coer&ncia com a
investigaçio do problema central da monografia, ou seja, a
8. Fato observado por Abranches (1980:14), cuja PErspic~cia
penetra no imago da qUEstio. Segundo e l e · na medida em
que se insere na base produt iva da sociedade, como agente
clil"E:-:-to na PI"odução, a empl"esa ~5t<:ttal vinculaO.O!:;E
objetivamente ~ rede de relaç6es inter-empresariais,
submetendo-se ~ mEsma lógica dE ação qUE a grande Empresa
tarefa de delimita~ o pa~adigma da ~acionalidade emp~esa~ial
~m urna dF55as empvesas.
Po~ out~o lado, o r~conhEeimento da posiçio
privilegiada que as emplresas estatais ocupam na estrutura
produtiva do Pars, exige que SE faça urna incursâo ne panorama
econBmico brasileiro E SE busque uma certa fidel idade com a
chamada mot ivaçâo basicamente inte~vencionista do Estado. A
~onstataçâo dEssa nECEssidadE SE descobre a part ir do momento
em que se explicitam os movimentos de expansio e
auto-~firmaçâo de aparelho estatal, cujo marco pol rt ice-jurídico
desempenhOU um papel de divisor de águas, que Abranches
(\985:58-60) Julga "responsável pela dicotomia existente entrE
f) ~starlo tecnocrát ieo ~ modErno E o Estado burocr~t ico e
defasado".
o
lado dito moderno do Estado, agregado ao setqr~escent~alizado, vem a se~ p~eenchido po~ entidades
paraestatais, constitufdas sob a forma de sociedade de
E~onomia mista - reguladas pela lei das sociedades anBnimas
(~ociedarles por aç5Es), Lei nQ 6.404, de 15.12,76
p~bl iea, com personalidade jurfdica dE
privado, para a exploraç~o de at ividade econômica,
ou dE
dirEito
confo~me
E~tabelece o Decl"eto-Lei nQ 200, de 25.02.67, arts. 40 e 5Q,
re~pectivamente"
F
dE se nota~ qUE a ~ntençio dE lhes darflexibilidade econ8mica, nio lhes ret irou o substrato p~blico.
lsto significa dize~ que elas estio submet idas a um sistema de
~esponsabilidades p~bl icas. No entanto, a figura empresarial
nascida das ent idades criadas e financiadas pelo Estado pa~a
intervir na economia, caracteriza o comportamento aut6nomo p
~xpansionista assumido pelas emp~esas estatais e as dife~encia
fundamentalmente do setol'·
D(·! f':l.t:o,
g~ve~nament:ais de natu~eza econ8mica operando sobre um regime
d e· p I'· o ri 1.1 (; ã o, em CII.1(;: p Cil'" v i a d r::: c em t r· a t ()~" 1:. ã o u t i I i z el dos ()f;;
fato~e~ de produção E o lucro const itui a remuneração da
capacidade empresarial, não poderiam deixar escapar essa dita
l~gica privada. Lógica que ampl ia o poder econBmico do Estado e de sua burocracia.
O problema, Então, prende-se à compat ibi) ização da
forma p~bl ica e da forma privada, SEndo que Esta ~lt ima
no ponto suhstant ivo para o fu.n c i on <llrlen t: o
organização empresarial. Os manuais clássicos dE administração
sio uninimes em defender a liberdade de atuaçio do empres~rio,
a fim de que as empresas possam cumprir seu duplo papel na
v i da ec:onôm i ca, como produtoras de bens e serviços
At Ir avél'';
p oei ~::··_·S(·! c omp Ir (·!E·n d elr p ad ,~ ()E.'!:;
organizacionais adotados pelas empresas estatais t&m a mesma
m:.Ülr iz ideológica I'· ep I'· E~~;(7:n t elcl C)~:; nos
empreendimentos privados, necessários para qUE elas possam
~;l. 1 c a n .; a I'· rndicES dE produt ividade E eficiênc:ia qUE lhE~S
permitam au.fe~ir lu. c ,~ o ~;, c: t: E·" condiçBES dE expandir-se.
AI:!
,r
.3.n C h p.~; (1977:20-2) é um dos autorES qUE fixa operfodo pós-64 como aquele em que o traço fundamental foi a
bu.sca de uma estrutura organizacional e empresarial estável e
F.: f i c i (~n t: e· , montada nos moldes do modelo p~edominante nos
setorES sob controle da grande empresa capital ista moderna. De
li f!'~;;(~n vo I ven d ()
o rnel'c:ado, orientadas para o
bit i ta!:,
«1)
ident ificadas com o alcancE' da
ex~el&ncia operacional , as emprEsas Estatais foram brindadas
~om incentivos governamentais aprop~iad()s ~ 1 ivre iniciat iva,
contrastando com a origem majo~it'ria de seu capital e do
~uposto objeto social que lhes dia uma indissoci~vel dimensâo Palblica.
POI'·Ém, SErá a dimensio histórica vivida pelo Pars
que lhes haverá de garantir um lugar próprio no centro da açio
de vez qUE as empresas nascidas sob o signo do
Fstado, serviria de palco para a encenaçio da alian~a
militar-I:: ... :; t: <:lo d () bUI'OClr,it i co m i ·1 i t <:\1'· , destacando-·se no
madernizaçio e no crescente estrmulo à acumulaçio privada.
Esta será a pedra de toque que demarcar~ a face
assumida pelo novo regime, que em nome da racionalidade
t~cnica, responderá pela ~nfase ao modelo de Exportaç6es como
fator de crescimento e que admite a impo~taçio de capital
como elemento de transferência de poupança
tecnoloq i:;;\, inauqurando uma estrat~gia dE funcionamento que
influenciará grandemente o est ilo de administraçio encontrado
n:.1 ':; empresas estatais. A estrutura da empresa esbltal
ut ilizará uma configurac;io que reune capital intensivo,
9. Vieira (1980:266) identifica o uso de::: pl'"áticas agilizadasm
supostamente compatrveis com o mercado, acionadas atravÉs
de mecanismos decisórios mais rápidOS e menos
burocratizados, sobrEtudo na gestio e remunerac;io de
recursos humano~, nos procedimentos de compra e
investimentos e na forma de interagir com seus clientes
c on ~::.um i (j OI' e'::. d i I' f!'t O~:; de p Ir od I.J. t: ()~:; ou SE·I~ V i ç De.:, •